
O episódio de um desempregado que rouba um pão ao ver a família passar fome e por isso é preso tornou-se enredo de um dos romances mais conhecidos de Victor Hugo, Os Miseráveis, de 1862. Foi a primeira obra relevante a ter como tema a miséria, num período em que a pobreza era considerada parte da ordem natural das coisas. Desde o lançamento de Os Miseráveis, levou pelo menos um século para que o mundo começasse a enxergar a justiça social como fator indissociável do avanço econômico e a perceber que, se todos os setores da sociedade acumulassem mais riqueza, um país aceleraria seu desenvolvimento. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), dois terços da taxa de redução de pobreza no mundo decorrem do crescimento econômico. A China é o exemplo mais patente: entre 1981 e 2001, 680 milhões de chineses ascenderam na escala social, beneficiados pela abertura econômica e por investimentos em educação, que levaram o país a ter uma alta anual do PIB de 8% em média na última década. O Brasil é outro exemplo de avanço: nos anos 2000, 16 milhões de pessoas deixaram a pobreza graças a políticas de transferência de renda e ao crescimento econômico decorrente da expansão do agronegócio — por sua vez, beneficiado pelo preço das commodities.
Ainda assim, há hoje 1 bilhão de pessoas no planeta que vivem com menos de 1,90 dólar por dia, o parâmetro internacional que define a pobreza. A maior parte desse contingente está na África e em países da América Latina e da Ásia. São bolsões de miséria num mundo que nunca foi tão rico. Segundo dados do Banco Mundial, o PIB per capita global já chega a 10 700 dólares — um aumento de 1 400% em relação a cinquenta anos atrás. Naquela época, a pobreza era retratada como fenômeno localizado, em geral ligado ao homem do campo, e não como uma chaga econômica que precisava ser combatida.
No Brasil, essa ideia estava cristalizada nas gerações dos boias-frias — trabalhadores rurais que, depois da criação da CLT, foram removidos das casas que ocupavam nas propriedades rurais para as periferias das cidades. Outro grupo social que definia a pobreza como fenômeno localizado eram as famílias nordestinas que, fora do período de safra, buscavam nos lixões a céu aberto o seu alimento.
Na década de 90, já se falava da pobreza como um mal sistêmico, impulsionado pelo crescimento desordenado das cidades: havia 60 milhões de miseráveis no Brasil. Naquele momento, a população de rua não se resumia a indivíduos com histórico de alcoolismo ou doenças mentais, mas a trabalhadores com carteira assinada que se despediam todos os dias da família para trabalhar e voltavam à noite para o que chamavam de casa — em geral, um espaço improvisado embaixo de um viaduto. Estava claro que o Brasil nunca se desenvolveria se não agregasse ao cotidiano econômico essa massa de miseráveis.
Em 2000, a ONU estabeleceu como meta reduzir à metade a pobreza do planeta num prazo de quinze anos. Esse objetivo foi atingido antes desse período graças aos esforços da China e do Brasil. Os chineses continuam melhorando seus indicadores, mas o Brasil retrocedeu. A pesquisa nacional mais recente revelou que o país teve uma alta de 11% no contingente de extremamente pobres, que passou de 13,34 milhões, em 2016, para 14,83 milhões, em 2017. A explicação é simples: a crise econômica fulminou o emprego entre os mais pobres e minou a capacidade financeira do governo de ajudá-los. “Essas pessoas até recebem o Bolsa Família, mas não é possível sustentar uma casa com 200 reais por mês sem um emprego”, explica o economista Cosmo Donato, da LCA. O sucesso no cumprimento da primeira meta fez a ONU dobrar a aposta para os quinze anos seguintes. Para o Brasil, será muito difícil cumpri-la. A Índia deverá ser o próximo a liderar a guerra contra a pobreza, segundo projeções feitas pela Economist Intelligence Unit (EIU). A história mostra que políticas públicas mitigam o estrago causado pela diferença de oportunidades em um país — mas só o dinamismo econômico é capaz de reduzir a miséria.
Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601


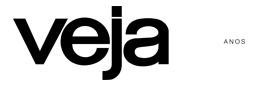
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Greves e manifestações param a França contra reforma da Previdência
Greves e manifestações param a França contra reforma da Previdência Marçal ultrapassa Nunes e encosta em Boulos em nova pesquisa AtlasIntel
Marçal ultrapassa Nunes e encosta em Boulos em nova pesquisa AtlasIntel MPT abre investigação contra Silvio Almeida por assédio sexual
MPT abre investigação contra Silvio Almeida por assédio sexual Albert Einstein cria iniciativas contra obesidade de colaboradores
Albert Einstein cria iniciativas contra obesidade de colaboradores Na Espanha, empresas de cigarro serão obrigadas a limpar bitucas das ruas
Na Espanha, empresas de cigarro serão obrigadas a limpar bitucas das ruas





![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


