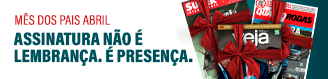Pontos de inflexão climática: por que a Amazônia está no centro da COP30
Colapso da floresta, derretimento da Groenlândia e falha das correntes oceânicas expõem riscos de mudanças irreversíveis

A floresta amazônica é tão extensa que cria o próprio clima. Suas árvores, ao realizarem fotossíntese e transpiração, liberam bilhões de toneladas de vapor d’água, que se condensam e formam nuvens.
Esse processo é responsável por cerca de um terço das chuvas que garantem a sobrevivência da floresta e influenciam o regime hídrico de boa parte da América do Sul.
Esse equilíbrio, no entanto, está em risco. O aquecimento global elevou as temperaturas médias na região, intensificou secas prolongadas e aumentou a frequência e intensidade dos incêndios.
Cada árvore morta compromete a capacidade da floresta de manter o ciclo de umidade.
Menos árvores significam menos chuva, que por sua vez leva a mais calor e ainda mais queimadas.
O risco é de que esse processo se torne autossustentado, empurrando a Amazônia para um ponto de não retorno (tipping point), um estágio em que o colapso se torna inevitável, transformando grandes áreas de floresta tropical em savana.
A consequência não se restringiria à perda de biodiversidade. A Amazônia armazena dezenas de bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Se esse estoque for liberado na atmosfera, o planeta inteiro será empurrado para um aquecimento ainda mais acelerado.

O conceito de pontos de inflexão
O caso amazônico é apenas um dos exemplos de pontos de inflexão climática. Esses pontos são limiares em que processos ambientais passam a se retroalimentar, de modo que mudanças locais se transformam em alterações irreversíveis para todo o sistema climático da Terra.
Entre os mais estudados estão:
Groenlândia: o derretimento da camada de gelo pode elevar o nível do mar em mais de sete metros.
Circulação Meridional do Atlântico (AMOC): essa corrente marítima transporta calor do hemisfério sul para o norte e mantém o clima europeu relativamente estável. Seu colapso poderia reduzir drasticamente a temperatura e a precipitação no continente.
Permafrost do Ártico: o degelo desse solo congelado liberaria enormes quantidades de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO₂.
Recifes de corais tropicais: em risco de morte em massa diante do aquecimento e da acidificação dos oceanos.
Esses pontos podem se interconectar em efeito dominó. O derretimento da Groenlândia, por exemplo, libera grandes volumes de água doce no Atlântico, enfraquecendo a AMOC.
O enfraquecimento da circulação oceânica reduz as chuvas sobre a Amazônia, acelerando o risco de colapso da floresta.
Incerteza não significa segurança
Determinar o momento exato em que um ponto de inflexão será atingido é extremamente complexo. O sistema climático é regulado por processos interdependentes e, em muitos casos, pouco compreendidos.
Alguns modelos sugerem que a Groenlândia pode ter iniciado um processo de declínio irreversível já no início dos anos 2000, quando o aquecimento global ultrapassou 0,8°C acima dos níveis pré-industriais. Outros apontam que o limite pode estar mais próximo dos 3°C.
Na Amazônia, estimativas variam entre 2°C e 6°C de aquecimento. Mas os cientistas alertam que o desmatamento contínuo pode precipitar esse ponto crítico, mesmo antes de o planeta atingir tais níveis de aquecimento.
O risco não é apenas climático, mas também humano: a ação direta das motosserras acelera o colapso natural.
A busca por sistemas de alerta
Para lidar com essas incertezas, pesquisadores e governos têm investido em tecnologia.
Em 2024, a Agência Britânica de Pesquisa e Inovação Avançada (ARIA) anunciou um programa de 110 milhões de dólares destinado a criar um sistema de alerta precoce para pontos de inflexão climática.
Equipes estão usando drones subaquáticos para mapear o derretimento das geleiras da Groenlândia, embarcações autônomas movidas a energia solar para medir temperatura e salinidade do Atlântico Norte e robôs terrestres para acompanhar o deslocamento das geleiras.
A ideia é coletar dados em tempo real que permitam identificar sinais precoces de mudanças abruptas.
Embora a tecnologia avance, sua utilidade dependerá da capacidade dos governos de transformar essas informações em políticas preventivas.
E até agora, poucos países encaram os pontos de não retorno com a mesma seriedade dedicada a riscos como pandemias ou crises financeiras globais.

O debate político e a percepção de risco
Parte da comunidade científica teme que o foco excessivo nos pontos de inflexão gere paralisia política, alimentando um sentimento de que o colapso é inevitável. Outros argumentam que ignorar esses riscos apenas torna as sociedades mais vulneráveis.
Nos últimos anos, o tema começou a chamar a atenção não apenas de pesquisadores, mas também de setores como seguradoras, fundos de pensão e forças de defesa civil.
O crescente interesse demonstra que o debate sobre os pontos de não retorno está se deslocando da esfera científica para a esfera econômica e estratégica.
O que está em jogo na COP30
É nesse contexto que ocorrerá a COP30, a conferência climática da ONU marcada para novembro em Belém, no Pará. A escolha da cidade, considerada a “porta de entrada da Amazônia”, é simbólica: coloca a maior floresta tropical do planeta no centro das negociações internacionais.
O Brasil terá papel crucial em dois sentidos. Primeiro, por ser o país que abriga cerca de 60% da Amazônia, portanto, decisivo para evitar o colapso do bioma. Segundo, por sua capacidade de liderar a agenda global em torno da preservação de florestas tropicais e da transição energética.
Espera-se que o governo brasileiro pressione por maior financiamento internacional para conservar a Amazônia, ampliar mecanismos de pagamento por serviços ambientais e reforçar compromissos de corte de emissões.
Ao mesmo tempo, a presença da floresta no coração das discussões deve tornar a COP30 um marco na tentativa de evitar que o planeta ultrapasse 1,5°C de aquecimento em relação à era pré-industrial.
O futuro da Amazônia, e, em muitos aspectos, o futuro climático do planeta. estará em jogo em Belém.



 A milionária festa de 15 anos da herdeira do supermercado Guanabara
A milionária festa de 15 anos da herdeira do supermercado Guanabara