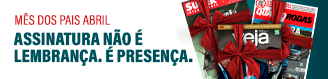O coronavírus já foi precificado e seu custo cruel, em doenças e fatalidades, absorvido. Basta olhar qualquer grande publicação nos países onde ele ainda persiste ou tentar rebrotar. Só com muito esforço os jornalistas conseguem “empurrar” o assunto para as manchetes. Fora, evidentemente, a expectativa em relação à vacina, ou vacinas, o público já está em outra. Os motivos principais são dois: uma espécie de ressaca emocional com uma doença que só traz más notícias e os mecanismos de proteção psicológica acionados por grandes crises. “O homem é uma criatura que se acostuma com tudo e acho que esta é a sua melhor definição”, resumiu Dostoiévski ao retratar, de forma tão genial e tão dolorosa, a teia de relações humanas num campo de trabalhos forçados na Sibéria, onde ele próprio penou durante quatro anos.
Quando os grandes números são colocados em contexto, a praga viral também tem um impacto menos chocante. Os mortos pelo vírus em todo o mundo já embicavam para 900 000 no mesmo dia da semana em que as fatalidades por todas as causas se aproximavam de 40 milhões. Ou seja, mais de 39 milhões de pessoas morreram neste ano por motivos alheios ao novo coronavírus.
Se as vítimas fossem jovens e crianças, obviamente o horror estaria em outro patamar. Nos Estados Unidos, o campeão em números absolutos, com as vítimas na casa dos 200 000, as mortes de doentes de zero a 14 anos foram sessenta. Uma única morte de criança, tragédia que abala toda a sociedade, já seria chocante, mas os temores dos pais e outros adultos jovens são, com razão, direcionados mais a seus antecessores do que aos sucessores no grande rio da vida.
“Ter vontade de sair e passear é um ato de reafirmação da vida e não de desprezo pelos mortos”
Ter vontade de sair, passear, ir a um restaurante, cortar o cabelo — ou dar uma levantadinha no visual: clínicas de Londres registraram até 40% de aumento na procura por Botox, resultado direto de horas e horas de autocontemplação em reuniões por Zoom ou Skype — é um ato de reafirmação da vida e não de desprezo pelos mortos. Acostumar-se às diversidades também.
“Eu no momento não estou comendo peixe”, escreveu uma certa Winifred Graville a uma prima nos Estados Unidos, a quem enviava cartas regulares durante a Blitz, os bombardeios alemães constantes contra Londres ao longo de oito infernais meses da II Guerra Mundial. “Tem tantos alemães mortos pegos nas redes de pesca aparecendo nas nossas praias que perdi um pouco a vontade”. A autora das cartas descobertas por um pesquisador e transformadas em livro é um exemplo do estilo queixo para cima, a teimosia em não se deixar abalar por adversidades, que se tornou em estereótipo nacional — e positivo — dos ingleses.
Seria absurdo comparar uma doença com letalidade relativamente baixa à Batalha da Inglaterra, tendo esta uma peculiaridade em comum com epidemia: os combates aéreos eram transmitidos ao vivo pela BBC. A cobertura, minuto a minuto, inclusive pelas redes sociais, da disseminação do vírus e seus efeitos deletérios criou uma epidemia paralela, a do medo. Tão intenso que virou um desafio aos governos que entendem a catástrofe da catatonia econômica. Nesse sentido, perder a paciência com tanta notícia ruim pode ser uma coisa boa.
Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Rock in Rio, os perrengues e os acertos do festival em 2022
Rock in Rio, os perrengues e os acertos do festival em 2022 A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT
A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT