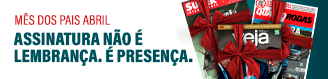Com amostras de DNA, pesquisadores traçam variedade da população do Brasil
O país saltou de categoria na arqueogenética, área que se propõe a analisar o material genético de povos antigos a partir de fragmentos de ossos


Desde o século XIX, antropólogos, arqueólogos e historiadores vêm usando uma variedade de métodos para responder a algumas das principais questões sobre a origem do brasileiro. De onde viemos? Quando? Como se deram as relações entre diferentes povos? Parte dessas respostas emergiu de dados morfológicos, registros antigos e análise de artefatos encontrados em sítios arqueológicos. Um novo campo de estudos, contudo, começa a revolucionar a maneira pela qual a ciência aos poucos mergulha na busca das raízes do Brasil. Trata-se da arqueogenética, área que se propõe a analisar o material genético de povos antigos a partir de fragmentos de ossos. Agora, pode-se dizer que o país saltou de categoria nesse escopo de estudos.
Recentemente, começou a funcionar na Universidade de São Paulo (USP) o primeiro espaço científico dedicado a examinar o DNA de populações antigas que passaram por aqui. Dele se esperam informações preciosas sobre aspectos ambientais e históricos da ocupação humana brasileira. O Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva é uma iniciativa da USP em parceria com o Instituto Max Planck, da Alemanha, conhecido pelas pesquisas de ponta que desenvolve. Inicialmente, a equipe multidisciplinar, que inclui profissionais da genética, biociências, anatomia e antropologia, vai se debruçar sobre o DNA dos povos de Luzia — o crânio humano mais antigo das Américas, descoberto na década de 70 no sítio arqueológico da Lapa do Santo, em Lagoa Santa, Minas Gerais (leia a reportagem na pág. 66) — e sobre as populações amazônicas para compreender sua enorme diversidade.

A genética é, de fato, uma ferramenta magnífica. “A possibilidade de extrair o DNA de esqueletos antigos representa um avanço enorme, o maior para a arqueologia desde o uso do carbono-14, na década de 50, para fazer datações”, afirma o arqueólogo André Strauss, do Museu de Arqueologia e Etnologia e coordenador do laboratório. O centro de pesquisa já está em atividade e os primeiros resultados das análises devem sair no segundo semestre deste ano. As possibilidades, aliás, são diversas. Os cientistas querem investigar doenças do passado para entender, por exemplo, se havia sífilis no Brasil antes da chegada dos europeus, a genética da fauna do continente sul-americano e estimar a idade de pinturas rupestres no Vale do Rio Peruaçu, em Minas Gerais.

A arqueogenética ganhou notoriedade depois que o pesquisador sueco Svante Pääbo foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina no ano passado por suas investigações dos neandertais por meio de sequenciamento genômico. Esse tipo de garimpagem científica rendeu achados fascinantes, como a descoberta de que os humanos modernos carregam de 3% a 5% do DNA dos neandertais, espécie que evoluiu há cerca de 400 000 anos e com quem nós, os Homo sapiens, convivemos. Esses estudos só foram possíveis com a popularização de tecnologias que permitem o sequenciamento de genomas completos, antes um processo caro e restrito a poucos laboratórios.
Em outra frente, está em curso no país uma iniciativa que se propõe a fazer o mais completo mapeamento genômico da população brasileira: o projeto DNA do Brasil, idealizado pela geneticista Lygia da Veiga Pereira com o objetivo de criar um banco de genes que retratem a diversidade do nosso país. Afinal, os depósitos que existem no mundo são focados principalmente na população europeia e não dão conta do que a cientista chama de “mosaico de ancestralidades” do Brasil. A meta inicial era sequenciar 15 000 genomas em parceria com o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, a maior análise epidemiológica do país. Mas o foco mudou um pouco e hoje o time está observando outros coortes (assim mesmo, com dois “o”), como são chamados os grupos de pessoas, incluindo populações ribeirinhas do Amazonas e pacientes afetados pela Covid-19.

Já foram sequenciados 4 000 genomas. Quem está à frente da empreitada é a geneticista Tábita Hünemeier, uma das maiores especialistas da área de genética de populações, e os resultados têm sido impressionantes. O projeto identificou, por exemplo, os cruzamentos assimétricos, que revelam como o processo de colonização do país foi violento. Enquanto a herança genética paterna dos brasileiros tem forte contribuição dos europeus, a herança materna mostra maior diversidade, de negras e indígenas (veja o quadro acima). Há revelações surpreendentes e belas. “Identificamos nos brasileiros atuais pedaços de genomas de ancestralidade indígena que não existem mais”, afirma Lygia da Veiga Pereira. “São fragmentos que seguem vivos no brasileiro atual.”

Todo esse conhecimento também adicionará dados sobre predisposições genéticas às doenças carregadas pela população, inclusive a indígena, pouco estudada até agora. “Aos poucos, vamos montando as peças, mas ainda faltam muitas”, afirma Tábita Hünemeier. “Agora, estamos conseguindo olhar para esse cordão temporal passando um pente-fino e entendendo essas histórias”, diz.

Empreendimentos científicos do gênero ajudam a reescrever ou a completar o que se sabe sobre o passado de uma forma que nunca foi tão precisa e reveladora. É deles, afinal, que também surge o resgate de histórias que ficaram propositalmente fora dos livros. “Desde que os portugueses chegaram ao Brasil houve um apagamento sistemático da história indígena”, afirma o geneticista Fabricio Rodrigues, da Universidade Federal de Minas Gerais. “As memórias registradas no DNA, por outro lado, não são extintas, pois o material genético passa de geração em geração”, diz. Foi a partir do estudo segundo a régua da genética que se descobriu, por exemplo, que 98% dos indígenas tupi, que habitavam as costas brasileiras, foram dizimados. Não à toa, os testes genéticos de ancestralidade se tornaram populares ao oferecer pistas sobre trajetórias familiares que não poderiam ser recuperadas de outra forma. Entender quem somos e de onde viemos é passo fundamental do autoconhecimento não apenas individual, mas de toda a civilização que construímos.
Colaborou Marilia Monitchele
Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Bolão do Emmy 2022: quem são os favoritos ao prêmio
Bolão do Emmy 2022: quem são os favoritos ao prêmio