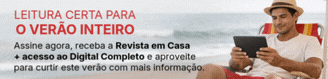À diferença da policromia vibrante que marca as igrejas ortodoxas, a catedral protestante de Königsberg desponta com austeros tijolinhos marrons entremeados por janelas e arcos amarelos e contritos, como se a arquitetura da igreja quisesse expiar os pecados dos fiéis.

Se a aura da catedral não me impressiona, o museu que fica na cúpula da igreja me deixa atônito ao expor a máscara mortuária do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804).
O último semblante de Kant é sumamente macilento; não há traço de carne ou gordura, como se a evasão da alma também tivesse surrupiado o corpo do filósofo. Ossos bem pronunciados circundam seus olhos grandes e fundos como charcos; no meio do nariz fino, pontudo e de narinas oblongas, uma protuberância óssea sobe e desce como a corcova de um camelo; bochechas aradas por vincos profundos; o detalhe que me chama mais a atenção, porém, está na boca de Kant: a despeito dos lábios inexpressivos, a boca parece entreaberta, como se Kant ainda quisesse dizer algo. Todo o restante de seu rosto está apaziguado com o término da vida, à exceção de sua boca loquaz.
O que a máscara mortuária de Immanuel Kant me diria se pudesse falar?

Desço até a igreja propriamente dita para assistir a um concerto de órgão.
O último concerto que eu havia visto, em julho de 2015, me pegou de surpresa: ao entrar na pequena igreja da Universidade de Loyola, à beira do lago Michigan, em Chicago, um órgão denso e efusivo me fez sentir, em cada fímbria do corpo, a visceralidade de um aforismo do filósofo romeno Emil Cioran (1911-1995), para quem os acordes de um órgão são degraus celestiais que aproximam o ser humano do absoluto. Toda a fragilidade que nos constitui parece reconciliada: o órgão ressoa a presença imediata e tangível de Deus.
O órgão altivo e barroco redime a austeridade da catedral de Königsberg.
Uma legião de anjos infantis e alados se posta junto às múltiplas partes do órgão, que, como sói acontecer, fica sobrelevado em relação aos fiéis. Quando o órgão começa a ressoar, os anjos tocam as trompas e trompetes como o prenúncio da aterrissagem divina.
Há toda uma mística liberada pela sucessão infinda de acordes graves e agudos, como se o órgão, qual um tapete voador, nos fizesse descer até o vale da mais densa prospecção existencial para, em seguida, nos alçar ao cume sublime da cura.
Como que oriundas dos arabescos dourados que encimam os tubos delgados e prateados do órgão, mil mãos compassivas nos elevam e enlevam: não há solidão possível, a música transborda o sentido, o órgão religa a ponte (o cordão umbilical) com o absoluto pela sucessão de nuvens de seus acordes.
O filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860) sentenciou certa vez que o movimento essencial da música, com sua forma pura, indômita e desprovida da dor semântica das palavras, consegue expressar, com o máximo de visceralidade e mimese, o ardor da vontade humana, suas idas e vindas, suas contradições que explodem em paradoxos e fúria; a pura forma musical, para Schopenhauer, contém, acompanha e liberta a nervura da paixão em seu ardor, a nervura da melancolia em seu suspiro, a nervura do sonho em sua espera, a nervura da tristeza em seu pranto, a nervura do amor em seu acalento, a nervura da alegria em seu canto, a nervura da saudade em sua nostalgia.
Eu não tenho dúvida de que o ateu Arthur Schopenhauer sentiu essa descoberta em cada fímbria de seu corpo enquanto ouvia um concerto de órgão em uma igreja que ele e seu discípulo revolto Friedrich Nietzsche (1844-1900), musicófilo contumaz como Schopenhauer, chamavam de sepulcro de Deus.
O órgão é a própria nostalgia do absoluto.
Quando ressoa suavemente, o órgão é a mãe que entoa uma cantiga de ninar para o filho.
O órgão sobrelevado em relação aos fiéis lembra a aparição de Deus a Moisés no cume do Sinai.

Súbito, me ocorre a razão pela qual os sobreviventes ao cerco que os nazistas impuseram a São Petersburgo quiseram fazer, em plena avenida Niévski, sob a tempestade de aço e as labaredas das ogivas, uma apresentação da Sinfonia n.º 7, que Dmítri Chostakóvitch (1906-1975) compusera em homenagem à cidade sitiada.
Entre 08 de setembro de 1941 e 27 de janeiro de 1944 – longos, famélicos, friíssimos e infectos 872 dias –, São Petersburgo (então rebatizada como Leningrado) se viu cercada pelas tropas hitleristas.
Inanição.
Canibalismo.
Frio – o frio que exaure, com o tremor dos corpos reduzidos a sacos de ossos, a última energia da sobrevivência, o frio cujas rajadas de vento queimam e cortam a pele fina como papel vegetal com a avidez de chicotes e punhais.
Já não há como esconder a morte a sete palmos do chão – não há tempo e força para cavar sepulcros, é preciso aproveitar as crateras abertas pelas bombas como cemitérios a céu aberto.
Crateras como covas, crateras como trincheiras.
Cadáveres e soldados.
Cemitério dos vivos.
Ainda assim, a resistência de Leningrado decide, contra toda a racionalidade utilitária, apresentar a Sinfonia n.º 7 em plena avenida Niévski.
Todos estão cientes de que podem morrer como moscas em meio ao bombardeio alemão.
Todos estão cientes de que caminhar (ou melhor, claudicar) até a Niévski envolve o risco de morrer de frio e exaustão.
Ora, quem tem medo da morte na Leningrado sitiada?
No inferno, a morte redime.
Queremos ouvir Chostakóvitch, queremos vibrar em dó maior – se, com a sinfonia atonal das ogivas, esse for o nosso réquiem, morreremos reconciliados.
Que é a fome diante da sobrevivência?
Não só de pão vive o homem.
Que é o frio diante da sobrevivência?
Entre os escombros, a esperança trêmula como nossos ossos nos acalentará.
Que é a exaustão diante da sobrevivência?
A falta de fé é o que nos vai exaurir.
Imaginemos que, no Natal de 1941 (e 1942 e 1943), os sobreviventes ao cerco de Leningrado, quais esqueletos ambulantes, se abraçaram ao redor de um maestro maltrapilho, cuja batuta era um semipedaço de arame, de uma orquestra de zumbis que mal conseguiam soerguer seus instrumentos e de um piano alquebrado, cuja cauda fora amputada por uma granada.
Tal concerto surrealista só aconteceu porque, como bem sabia o compatriota dos sobreviventes de Leningrado Fiódor Dostoiévski (1821-1881), os seres humanos não apenas vivem – nós buscamos uma razão para viver, nós buscamos uma razão para continuar a viver, nós buscamos uma razão para continuar a continuar.
Tal concerto surrealista, réquiem à vida e ode à morte, encarna a nostalgia do absoluto na Leningrado sitiada em que a mera menção à justiça de Deus mais parecia um acinte – o mais viscoso escárnio.
No dia 25 de dezembro de 1943, algum poeta teve a ideia de transportar um órgão para o coração da avenida Niévski: as flautas da Sinfonia n.º 7 dariam lugar aos trovões dos acordes que já se faziam mais altissonantes do que as explosões – pouco mais de um mês depois, o cerco a Leningrado seria levantado pelo Exército Vermelho.
Consta que, quando os soldados russos chegaram à avenida Niévski, eles não acreditaram nos próprios olhos no momento em que viram uma roda de cadáveres de mãos dadas ao redor de um maestro que morrera em pé, congelado, enquanto regia o penúltimo acorde de Chostakóvitch.
Flávio Ricardo Vassoler, escritor e professor, é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela FFLCH-USP, com pós-doutorado em Literatura Russa pela Northwestern University (EUA). É autor das obras O evangelho segundo Talião (nVersos, 2013), Tiro de misericórdia (nVersos, 2014) e Dostoiévski e a dialética: Fetichismo da forma, utopia como conteúdo (Hedra, 2018), além de ter organizado o livro de ensaios Fiódor Dostoiévski e Ingmar Bergman: O niilismo da modernidade (Intermeios, 2012) e, ao lado de Alexandre Rosa e Ieda Lebensztayn, o livro Pai contra mãe e outros contos (Hedra, 2018), de Machado de Assis. Página na internet: Portal Heráclito, https://www.portalheraclito.com.br.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO