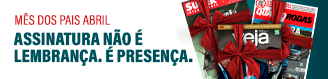É ilusão achar que o clima de conflito vai se dissipar no resultado das eleições. Não vai, simplesmente porque a discórdia ainda é o combustível mais rentável no mercado político brasileiro.
Veio das urnas, porém, a melhor notícia da primavera: houve uma insurgência eleitoral contra o amálgama das forças do atraso social com as da regressão institucional. Ambas são amparadas por tribos fundamentalistas — umas enriquecidas no evangelismo de um cristianismo primitivo, outras empobrecidas nos sermões de um comunismo arcaico. Foram atropeladas pela insistência na preferência pela democracia.
Os eleitores escolheram um Congresso conservador, de composição mais inclinada à direita que a atual. Na prática, reafirmaram a opção preferencial pela manutenção do domínio do Legislativo pelos partidos de centro, como ocorreu na maior parte das últimas quatro décadas, desde a redemocratização. Estreitaram a margem para mudanças radicais, por iniciativa parlamentar. E isso deve se refletir em moderação no próximo governo.
O eleito vai assumir, em janeiro, sob grande expectativa de reversão rápida da crise econômica. Sete em cada dez eleitores dizem, nas pesquisas, esperar que em seis meses o novo governo viabilize melhoria significativa na economia, no mercado de trabalho e nas condições de vida das famílias.
A esperança embutida nas declarações de voto sinaliza a dimensão da preocupação coletiva com o futuro num país estagnado há quatro décadas. Indica, também, um ambiente escasso em paciência com incompetências, e uma redução no tempo de “lua de mel” do novo governo com o eleitorado.
Não é peculiaridade verde-amarela, mas tendência sul-americana. Casos exemplares, no último semestre, são os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e Gabriel Boric, do Chile: em menos de três meses de governo viram dobrar suas taxas de desaprovação, para alegria da oposição.
No Congresso, o bloco de centro-direita vai prevalecer em votações nos plenários, onde ampla maioria (557 dos 594 parlamentares) toma posse em fevereiro já com olhos voltados para o calendário eleitoral — a disputa por prefeituras, em 2024, e a da reeleição, em 2026.
“A melhor notícia é a insurgência eleitoral contra o atraso”
Pouca gente percebeu, mas entre o primeiro e o segundo turno foi discretamente abatida uma proposta simbólica do radicalismo, a do aumento do número de juízes no Supremo Tribunal Federal.
Esvaiu-se a ideia de que o governo eleito teria legitimidade para mudar a composição do STF com o objetivo de garantir maioria no plenário de juízes. Exalava golpismo — e era — porque representaria um drible em cláusulas pétreas da Constituição de 1988, na qual se definem a separação e a independência dos poderes republicanos.
Restam alguns defensores, como Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Recém-eleito, seria um voto a favor entre os três senadores do Partido Republicanos. Mas, de saída, enfrentaria a oposição de outros dez na bancada do PSD, partido cujo presidente, Gilberto Kassab, descarta apoio com rara ênfase: “É muito grave, seria como um golpe”.
A habilidade do futuro presidente em negociações com a maioria legislativa de centro será testada já a partir desta semana nas garantias de estabilidade na política fiscal, nos gastos públicos e na administração da taxa de inflação, cujo descontrole costuma ser fatal para todos. Um exame prático estará na aprovação do aumento do imposto de renda para os mais ricos.
Aspecto relevante na relação governo-Congresso será a revogação do contrato informal com o Centrão, realizado pelo governo Jair Bolsonaro, para a gestão sem transparência de um quarto dos recursos livres no Orçamento federal, cerca de 19 bilhões de reais por ano. É o produto de uma trama eleitoral. Afetou a disputa porque impôs desigualdade na batalha por votos. Liquidou com a isonomia entre parlamentares, semeou desconfiança nos plenários da Câmara e do Senado e deixou um rastro de suspeitas de corrupção.
Insustentável pela própria natureza opaca e constitucionalmente delituosa, sua legalização, com critérios claros e objetivos, servirá à afirmação do controle do Congresso sobre o Orçamento. No fim das contas, vai redundar em perdas para o Executivo e um reforço no debate reformista sobre propostas como a de um tipo de geringonça que alguns chamam de semipresidencialismo.
O legado da eleição pela rejeição deverá condicionar as iniciativas na crise política a partir desta primavera.
Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA
Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Influenciadores mirins estão em alta; especialistas alertam para perigos
Influenciadores mirins estão em alta; especialistas alertam para perigos