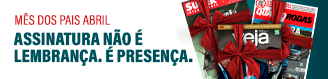No mundo de Bolsonaro, quem importa é a Rússia de Putin
Para Bolsonaro, o líder russo representa novo paradigma de autocrata e se mostra colaborativo naquilo que é prioridade particular, a continuidade no poder

Relações com Vladimir Putin? “Está dez, excelente”. E com Joe Biden? “Voltaram a quase uma normalidade”.
No mundo de Jair Bolsonaro, a Rússia é mais importante, hoje, do que os países que têm sido centrais para a política externa brasileira nas últimas três décadas.
Donald Trump não deixou de ser referência, mas está na planície. É possível que se reencontrem nas próximas semanas, antes da eleição no Brasil.
Putin não só representa um novo paradigma de autocrata, como, a exemplo de Trump, se mostra colaborativo naquilo que é a prioridade particular de Bolsonaro — a continuidade no poder.
Desde que o conheceu há cinco meses, uma semana antes da invasão da Ucrânia, tem sido pródigo em elogios e manifestações públicas de apoio. “Somos solidários”, disse-lhe no encontro em Moscou. “Somos neutros”, afirmou na segunda-feira em conversa telefônica com inimigo de Putin, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski.
Em fevereiro, no Kremlin, Bolsonaro pediu ajuda a Putin para vencer a eleição de outubro. Não se conhece a resposta de de Putin, mas a Rússia tem um histórico de interferências em disputas eleitorais nos Estados Unidos e na União Europeia.
Cem dias depois, em junho, repetiu o apelo a Biden, numa reunião em Los Angeles. Sabe-se que o presidente americano mudou de assunto e, em público, fez questão de elogiar o histórico “robusto” das instituições e do sistema eleitoral brasileiro, que Bolsonaro transformou em alvo de campanha.
Olímpico, fingiu que não se importou com Biden, nem com os emissários da Casa Branca que estiveram em Brasília nos últimos 15 meses, sempre com mesma mensagem: os EUA consideram contraproducente o aumento da instabilidade democrática no Brasil, chave na sua prioridade política que é conter o avanço da China.
No mundo de Bolsonaro, os interesses do Estado brasileiro estão condicionados ao objetivo pessoal, privado, a obsessão de se manter no poder.
Por isso, rebarbou ofertas como a de integração militar à Otan, sob o status de “parceiro global” — velho sonho dos comandos das Forças Armadas —, apresentada no ano passado, no Palácio do Planalto, por Jack Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, e Juan González, assessor especial de Biden.
Nesta semana, garantiu lugar na História como presidente que convocou delegações estrangeiras ao Palácio da Alvorada para descreditar o país que governa.
A lista de participantes desse evento de campanha eleitoral é eloquente. O presidente do Brasil promoveu uma reunião com embaixadores de outras nações e não convidou representantes da China, Reino Unido, Argentina e Chile.
São quatro dos dez principais compradores de produtos brasileiros. Ano passado importaram US$ 106 bilhões, o equivalente a 38% de tudo que o país vendeu no exterior.
Razões pessoais, de natureza eleitoral, na hostilidade — conta-se no Itamaraty. No mapa-múndi de Bolsonaro, a China foi descartada porque é “comunista”, Argentina e Chile porque são “de esquerda”, e Reino Unido “por causa de Putin”.
Nas horas seguintes, os governos dos EUA e do Reino Unido fizeram questão de reafirmar, em público e de maneira inusual, um “reconhecimento” prévio a quem for eleito no Brasil em outubro, no sistema de votação eletrônica fiscalizado pelas instituições nacionais atacadas por Bolsonaro.
A China, cujo pragmatismo ainda não permite avaliar consequências da Revolução Francesa de 1789, preferiu se manter silente. Há 43 meses arrosta hostilidades sucessivas e gratuitas de Bolsonaro e do seu clã parlamentar.
O presidente chinês Xi Jinping não está só. Tem a companhia, entre outros, dos líderes da França, Emmanuel Macron; da Alemanha, Olaf Scholz; da Argentina, Alberto Fernández; do Chile, Gabriel Boric; da Espanha, Pedro Sánchez; e, de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Bolsonaro cultiva a imagem de governante de um pedaço bizarro do mundo. Parece e é absurdo, mas tem precedente — Jânio Quadros. As excentricidades de 1961 no Planalto levaram o poeta e embaixador Augusto Frederico Schmidt a resumir em cinco palavras a imagem externa do Brasil de Jânio: “É um país considerado idiota.”



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Ladrões invadem Castelo de Windsor, onde mora rei Charles, e levam dois veículos reais
Ladrões invadem Castelo de Windsor, onde mora rei Charles, e levam dois veículos reais