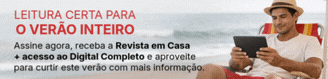Adam Przeworski explica ditaduras
Regimes autoritários optam por reprimir, fazer propaganda e cooptar – enquanto cidadãos se defendem com jogos de linguagem
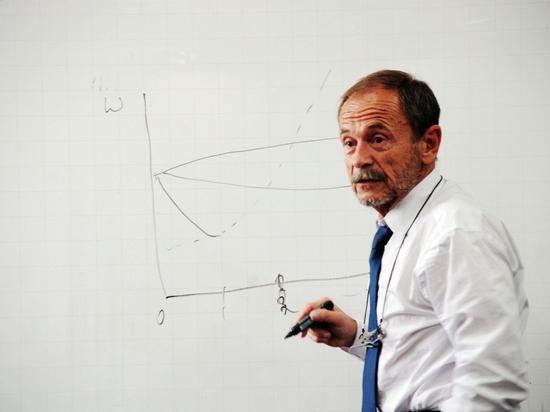
Autor de dezenas de trabalhos acadêmicos sobre democracia, desenvolvimento econômico e eleições, o cientista político polonês Adam Przeworski acredita que regimes autoritários precisam ser mais bem compreendidos academicamente do que nunca.
Em conversa exclusiva ocorrida em São Paulo em abril, um dia antes de Przeworski participar do evento de 50 anos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o professor relata suas experiências pessoais com ditaduras e identifica dois aspectos ainda negligenciados pelos acadêmicos quando estudam regimes desse tipo: um viés ideológico que nos faz acreditar que ditaduras nunca seriam apoiadas pela maioria dos cidadãos e a possibilidade de presidentes autoritários persuadirem o povo a apoiá-los.
***
O senhor foi criado na Polônia durante a ditadura comunista. Como foi essa experiência?
Eu era criança e fui um adolescente feliz. A história me afetou porque nasci em 1940, no meio da guerra. Cresci com um grande senso de que nossas vidas eram afetadas pela política internacional. O que podemos fazer, o que podemos dizer, se temos algo para comer, depende de uma grande situação geopolítica. Então eu me interessei muito por política. Não havia, no entanto, repressão diária. As pessoas não tinham medo na vida privada. Mas quando comecei a ser pesquisador, comecei a notar óbvios limites sobre o que se podia dizer em público.
Era possível driblar esses limites?
Sim. Na vida pública, aprendemos a jogar contra o governo e os censores. Sabíamos que certas coisas não podiam ser ditas de forma alguma, porque seriam reconhecidas e reprimidas. Mas aprendemos a dizer as coisas de maneiras diferentes, em uma linguagem diferente, com alusões. Era uma espécie de jogo em que conhecíamos os limites, mas sempre conseguimos encontrar um pouco de espaço dentro deles.
Vou te dar um exemplo da China. Lá, se você usar os caracteres do nome do presidente – o Sr. Xi – na internet, eles imediatamente censuram. Então os cidadãos inventam outras palavras e caracteres que soam como “Xi” e o governo leva alguns dias para censurar.
Na Polônia, a verdadeira repressão era contra quem se organizava. Isso você não podia fazer. A polícia secreta era muito eficaz. Qualquer grupo de dez pessoas que começasse a se encontrar regularmente seria infiltrado pela polícia. Eu pertenci a um grupo desses.
Ditadores necessariamente usam a repressão dessa maneira?
Eles usam a repressão junto com outros mecanismos. Sabemos hoje, na Ciência Política, muito mais sobre regimes autoritários do que naquela época. Nos últimos quinze anos construiu-se um quadro geral de análise sobre ditaduras que é o seguinte: há algum tipo de líder, ditador, individual ou coletivo, e essa pessoa ou grupo tenta permanecer no poder pelo maior tempo possível. E os ditadores usam estratégias diferentes: repressão, cooptação, propaganda.
Qual era o ponto de vista anterior?
Os cientistas políticos pensaram que os ditadores governavam por capricho. Escrevi dois artigos com Jennifer Gandhi sobre cooptação e uma das coisas que enfatizamos é que as instituições importam sob ditaduras. Concluímos que, para que haja um sistema organizado de cooptação, é útil, especialmente, que o ditador tenha (ou “seja”) um partido político.
Então as relações de governantes com seus partidos são essenciais para entender a dinâmica democracia-ditadura?
Sim, e minha estadia no Chile me mostrou isso. Na primavera de 1968, fui para os Estados Unidos com a intenção de ficar um semestre. Houve uma série de manifestações estudantis, repressão em massa e campanha antissemita. Muitas pessoas emigraram e eu não poderia voltar para a Polônia. Mas também não podia ficar nos Estados Unidos sem visto. Não tinha passaporte, dinheiro nem trabalho. Conheci Gláucio Soares, cientista político brasileiro e diretor da Flacso (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais) no Chile. Ele disse que tinha um emprego para mim e para lá eu fui.
Conhecia algo sobre o país?
Nada. Também não sabia espanhol. Me apaixonei tanto pelo Chile que, quando meu visto foi resolvido nos Estados Unidos, fiquei só por um ano e voltei para morar no Chile. Fui embora duas semanas antes do golpe militar contra Salvador Allende, em 1973, porque minha filha estava prestes a nascer.
Já estava claro que um golpe ocorreria?
Era inevitável. Houve eleições legislativas em março de 1973. A oposição a Allende esperava ganhar uma maioria de 60% para destituir o presidente. Quando eles falharam, ficou claro que os democratas cristãos decidiram apoiar um golpe. Naquela época, havia brigas nas ruas, tiroteios, bombas, o tempo todo. Então a única discussão em Santiago em 1973 era sobre o tipo de golpe que haveria. Se a iniciativa contra Allende partisse de unidade naval no Sul, então haveria uma guerra civil, por exemplo. Todos pensaram que seria um golpe branco – os militares colocariam Allende em um avião para Cuba e convocariam novas eleicoes. Mas as coisas ficaram fora de controle.
E então o senhor se convenceu de que a democracia era um fim em si mesmo?
Salvador Allende foi um verdadeiro reformista. Pensava que deveria ir o mais longe possível com todas as reformas para as quais há apoio majoritário. Mas se não houvesse apoio da maioria, desistiria. Ele achava que perder eleição não era uma catástrofe. A direita não voltaria atrás nas reformas já aprovadas. Allende achava que as reformas eram irreversíveis. Mas ele não controlou as forças ao seu redor e não controlou seu próprio partido. Seu partido acreditava que não se pode transformar a sociedade por meios pacíficos. No final, o conflito armado seria necessário. Então havia pessoas que defendiam o “socialismo” de qualquer maneira e outras defendiam a democracia primeiro. Eu aprendi, o Partido Comunista Italiano aprendeu, toda a esquerda no mundo aprendeu que a democracia tem que vir primeiro. Nossa reação inicial foi tática, estratégica: pensamos que, se a democracia não estiver em primeiro lugar, haverá mais tragédias como a chilena. Estávamos muito influenciados por Norberto Bobbio. Para ele, os valores democráticos de autonomia pessoal e respeito às escolhas coletivas precisam preceder quaisquer outros objetivos.
Preocupante é quando uma maioria popular apoia o contrário.
Sim. Temos um viés ideológico nos estudos acadêmicos sobre ditaduras. Supomos que ditaduras são sempre regimes minoritários. Se houvesse uma eleição honesta, o ditador não venceria. Há muitas evidências contra isso. Eu acho que na China e Rússia, hoje, há regimes autoritários apoiados pela maioria. Hitler também era, até invadir a União Soviética. Portanto, essa suposição de que a maioria sempre reage contra a repressão não é verdadeira. A revolução cultural chinesa implementada por Mao Tsé-Tung e os expurgos de Stalin entre 1936-1938 foram apoiados pela maioria do povo.
Isso me levou a pensar que uma falha em nosso modelo analítico sobre ditaduras é que as pessoas são persuadidas. Todos os ditadores dizem que estão levando seus países à prosperidade, desenvolvimento, e “todos devemos cooperar nesse esforço”. Existem condições sob as quais essa persuasão funciona. A vida cotidiana de um cidadão pode confirmar as palavras do ditador. Para democratas como nós, é inconcebível pensar que as pessoas possam apoiar regimes autoritários. Os americanos costumavam dizer que as pessoas só apoiam o comunismo porque sofrem lavagem cerebral. Bem… talvez não.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO