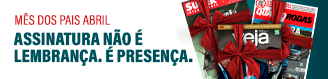Envelope sexy: vestido bandagem, de tiras a emoldurar os corpos, renasce com força
Que seja bem-vindo, mas não represente a desnecessária e preconceituosa ode ao corpo magérrimo

Com alguma dose de necessário humor, é como se você visse uma múmia egípcia, envelopada como manda o figurino, e exclamasse: “E não é que ficou sexy!”. O bandage dress, o vestido bandagem, nasceu para produzir espanto. A estética surgiu em dois tempos no universo da moda. Foi criada nos anos 1980 pelo estilista tunisiano Azzedine Alaïa (1935-2017), que disse ter se inspirado em ritos ancestrais de proteção aos cadáveres. Era, do ponto de vista visual, uma resposta imediata aos volumes exagerados daquela década para lá de cafona. Era também um manifesto em defesa do corpo humano em um tempo triste, de eclosão dos casos de aids. O pano a emoldurar esqueleto e músculos bem definidos era a celebração da saúde possível. Foi um estrondo, em passarelas e capas de revistas.

Nos anos 1990, Hervé Léger (1957-2017), jovem costureiro francês com passagem por Chanel e Fendi, tratou de beber da criatividade de Alaïa para dar uma volta a mais na ideia. “Encontrei algumas faixas de tecido que seriam descartadas e as coloquei lado a lado sobre um manequim. Não queria zíperes, mas um vestido sem costuras, até que uma cliente não conseguisse sair dele”, contou, anos depois. Usando tecidos mais elásticos e compressivos, elevou o conceito de definição corporal ao máximo. O molde soava arquitetônico, em uma segunda pele com o jeitão das curvas do Museu Guggenheim de Nova York, a obra-prima circular de Frank Lloyd Wright. O figurino virou febre entre supermodelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell e Kate Moss — até a princesa Diana usou a peça, descrita pelo The New York Times, não por acaso, como “look de múmia sexy”. Era sinônimo de sensualidade, confiança e poder, mas também alvo de críticas por favorecer um tipo de corpo muito bem delineado. “É quase um espartilho moderno sem ossos”, disse Léger.
E então, como no vaivém do estilo, os ciclos tendem a se repetir de vinte em vinte anos, embora não seja regra, a brincadeira renasceu com pompa. O bandage dress ressuscitou, agora também como pêndulo a mudar o lado depois de longa temporada de tecidos em profusão. Menos voltou a ser mais, em onda impulsionada pela magreza de um tempo feito à base de medicamentos como o Ozempic e o Mounjaro. “O culto à magreza foi determinante para o retorno do bandage”, afirma o stylist Dudu Farias, que veste top models como Renata Kuerten. “Associada a essa era nostálgica, que traz de volta um clássico, criou-se a cena perfeita para seu ressurgimento”. Ressalve-se, porém, haver um tom mais moderno e, digamos, saudável. Há fios mais maleáveis, que não machucam nem apertam em demasia. Marcas como Saint Laurent e a própria Hervé Léger, sob o comando criativo de Michelle Ochs, apostam em tecidos respiráveis, comprimentos variados e numeração expandida — uma tentativa de romper com o velho paradigma da exclusividade corporal, de olhos em silhuetas com mais carne e menos osso, embora nem tanto assim.

No TikTok, a geração Z redescobriu o vestido nos looks de Kaia Gerber — réplica do usado por sua mãe, Cindy Crawford, no Oscar de 1993 — e nas versões atualizadas de Hailey Bieber e Zendaya, mostrando que o desenho pode ser tão elegante quanto ousado. No Brasil, a atriz Marina Ruy Barbosa não perde a chance de aparecer a bordo de um modelo assinado por Ludovic de Saint Sernin. Vai durar? Impossível saber porque, como pontuou Alaïa, “eu faço vestidos, as mulheres fazem a moda”. É fundamental, contudo, não tratar o movimento como uma ditadura, que autorize apenas o uso a mulheres que se encaixam no envelhecido termômetro da beleza discricionário, como se não fosse possível ter uns quilos a mais. Não pode ser assim e que a bandagem se estenda quanto for preciso.
Publicado em VEJA de 15 de agosto de 2025, edição nº 2957


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Rock in Rio, os perrengues e os acertos do festival em 2022
Rock in Rio, os perrengues e os acertos do festival em 2022 A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT
A justificativa de Marina Silva para voltar a apoiar Lula e o PT