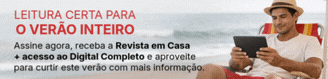Diversidade de negócios
Em uma controversa reforma de 400 milhões de dólares, o MoMA fechará as portas por quatro meses para adequar-se aos ditames da era da inclusão

EM 1984, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) inaugurou, sob aplauso crítico geral, a ambiciosa exposição Primitivismo na Arte do Século XX: Afinidade do Tribal e do Moderno. A mostra contrapunha 150 obras modernistas, de medalhões como Gauguin e Brancusi, a mais de 200 objetos tribais, em um exercício de olhar para além do próprio umbigo (a arte europeia/ocidental) e valorizar as produções de diferentes origens. A iniciativa era embalada por um discurso cheio de boas intenções — mas não teve o efeito esperado. Semanas depois da abertura, a revista Artforum, referência na área, saiu com longo artigo que condenava o museu por “reduzir” a arte indígena de outros continentes a mera fonte de matéria-prima. O autor, Thomas McEvilley, disse que a exposição exemplificava “a autorreferência ocidental autista” ao relacionar-se com o diferente. Ferida, a instituição reagiu, e McEvilley aumentou o tom das críticas, em embate que só se inflamou.
Passados 35 anos, o MoMA faz uma nova tentativa de ampliar seus horizontes. Em 15 de junho, em plena abertura da estação turística americana, trancará as portas para uma reforma — será a primeira vez, em seus noventa anos de história, que fechará para valer, sem a busca de um local para funcionamento provisório. Quando reabrir, mais de quatro meses depois, em 21 de outubro, terá não apenas ganho 3 700 metros quadrados de novos espaços, em uma reforma orçada em 400 milhões de dólares, mas passado por um reexame de identidade, a fim de contemplar a palavra mágica do momento — diversidade. Ao lado de obras como A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, e Les Demoiselles d’Avignon, do misógino Pablo Picasso, haverá telas de mais artistas mulheres, negros, latinos, asiáticos. Em geral, são itens que já pertencem ao acervo do museu, mas que os curadores frequentemente mantinham sob o ar condicionado dos depósitos — em outras palavras, estavam na geladeira.
Abre-se espaço para trabalhos como Janela de uma Garota Negra (1969), da afro-americana Betye Saar, que está hoje com 92 anos. A pintora é uma exceção estatística: um estudo recente examinou as coleções de dezoito dos principais museus dos Estados Unidos e concluiu que 85% dos artistas são brancos e 87% são homens. “Não queremos esquecer nossas raízes como a maior coleção de arte modernista, mas o museu não dava destaque ao trabalho de artistas mulheres, ao que as minorias estavam fazendo, e era limitado em sua geografia”, declarou Leon Black, presidente do MoMA.

O local, de fato, formou sua coleção com pesado viés na arte francesa pós-impressionista e modernista, além da produção modernista americana. Mas hoje tem a concorrência de outras instituições, como o Museu Whitney, que se instalou num prédio novo em 2015. Enquanto isso, espaços como a pequena Neue Gallerie, inaugurada em 2001, na Quinta Avenida, começaram a reparar a negligência histórica com a arte austríaca e alemã, agravada com a rivalidade resultante das duas grandes guerras.
Pois mais uma vez a iniciativa edificada conforme a cartilha contemporânea da boa intenção — e da inclusão, e do empoderamento, e de mais termos afins — não tem sido festejada como planejado. A primeira das controvérsias: para construir a nova ala, foi preciso passar com os tratores por cima do belíssimo prédio do Museu do Folclore, inaugurado em 2001 e celebrado por seu valor arquitetônico e cultural. Para que desperdiçar tantos milhões em prédios em áreas tão valorizadas em vez de se expandir para locais carentes de cultura?, questionam fontes ouvidas por VEJA. Quem procurar por respostas não tardará a encontrá-las. O MoMA vendeu por 125 milhões de dólares um terreno contíguo à nova ala. Ele abriga uma recém-lançada torre residencial de 320 metros de altura, projetada pelo francês Jean Nouvel, que tem como charme extra um acesso exclusivo à sede do venerando museu — um daqueles luxos imprecificáveis que ganham preço certo na mão dos corretores (uma cobertura ali custa 63 milhões de dólares). Ou seja: ao lado dos atualíssimos propósitos de expandir a visão de arte e ouvir mais vozes, há os velhíssimos interesses pecuniários.
Quando o MoMA reabrir, em outubro, a exposição principal será O Sul Moderno: Jornadas na Abstração, de arte latino-americana e baseada nas doações da colecionadora venezuelana Patricia Phelps de Cisneros — entre elas, obras dos brasileiros Lygia Clark e Hélio Oiticica. Ainda não há previsão para exibir a tela A Lua (1928), da paulista Tarsila do Amaral, adquirida em fevereiro por estimados 20 milhões de dólares, o valor mais alto já pago por um trabalho de pintor brasileiro. O preço das obras, a propósito, é um desafio para que o mundo conheça melhor nossa batucada. “Os modernistas brasileiros chegaram primeiro aos colecionadores, o que os torna hoje muito caros para os museus”, diz a espanhola Iria Candela, curadora especializada em arte latino-americana e contratada do Museu Metropolitan. Se ainda não são tantos nas paredes, os brasileiros ao menos se mostram numerosos pelos corredores — entre os mais de 900 000 turistas do país que a maior cidade dos Estados Unidos estima ter recebido em 2018, 63% são frequentadores de museus e galerias de arte.
Publicado em VEJA de 24 de abril de 2019, edição nº 2631

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br