É uma história longa, cruel, desconcertante — na qual o Brasil, infelizmente, figura com vergonhoso destaque. Está-se falando da escravidão, experiência que parece inseparável da trajetória da espécie humana — existem referências a ela em textos remotíssimos, como o Gênesis, e Aristóteles, monumento da filosofia grega, chegou a escrever em seu tratado sobre política: “É justa e útil a escravidão ou é contra a natureza? Todos os seres, desde o primeiro instante do nascimento, são, por assim dizer, marcados pela natureza, uns para comandar, outros para obedecer”. Derradeiro país do continente americano a abolir a escravatura (com a Lei Áurea, em 1888), o Brasil tem mais do que alguns capítulos nesse incômodo passado. Sozinho, constitui uma biblioteca inteira — que se amplia um pouco agora, com o lançamento do primeiro volume de Escravidão, a nova trilogia do jornalista Laurentino Gomes, autor de 1808, 1822 e 1889.
O tomo inaugural cobre o período que vai do primeiro leilão de escravos africanos realizado em Portugal, no dia 8 de agosto de 1444, até a morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, em 20 de novembro de 1695 — com escalas que tanto podem recuar ainda mais no tempo como chegar à atualidade. A escravidão, observa o jornalista — que foi editor executivo de VEJA —, representou o fator mais determinante da história brasileira. “Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor para a construção da nossa identidade”, ressalta Laurentino.

Compreensível. Durante três séculos e meio, o Brasil “foi o maior território escravista do hemisfério ocidental”: recebeu quase 5 milhões de africanos submetidos ao cativeiro; algo em torno de 40% dos 12,5 milhões de embarcados à força para a América. O resultado dessa gigantesca afluência, frisa o primeiro volume de Escravidão, é o fato de o Brasil ser hoje “o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo” (atrás da Nigéria). De acordo com o IBGE, os afrodescendentes somam por aqui 115 milhões, ou 54% do total de habitantes. Apesar disso, “liberdade nunca significou, para os ex-escravos e seus descendentes, oportunidades e mobilidade ou melhoria de vida”, registra Laurentino, que nos últimos seis anos viajou a doze nações, de três continentes, para escrever sua trilogia-reportagem. Na sequência, o jornalista enumera uma série de estatísticas relacionadas à realidade dos afrodescendentes no Brasil atual: eles correm mais risco de morrer assassinados, ganham menos e raramente ocupam postos de direção nas empresas de vulto que operam no país.
O que tais dados sublinham é um arraigado preconceito: o racismo baseado na cor do indivíduo. Que, todavia, conforme anota Laurentino em seu livro, não tem na escravidão a sua raiz. Tome-se a etimologia da palavra “escravo” — do latim slavus, ela servia “para designar os eslavos, nome genérico dos habitantes da região dos Bálcãs, grande fornecedora de mão de obra cativa para o Oriente Médio e o Mediterrâneo até o início do século XVIII”. Portanto, nesse caso, “os escravos geralmente eram pessoas brancas, de cabelos loiros e olhos azuis”.
Foi a escravidão na América a responsável “pelo nascimento de uma ideologia racista, que passou a associar a cor da pele à condição de escravo”, explica o jornalista. O negro seria um ser bárbaro, “só podendo ascender à plena humanidade pelo aprendizado na servidão”, como atesta o africanista Alberto da Costa e Silva, a maior autoridade brasileira no assunto — que, além de ser fonte, participa diretamente do livro de Laurentino, escrevendo notas que detalham ou discutem pontos expressos pelo autor. “A escravidão não nasceu do racismo; mas o racismo foi a consequência da escravidão”, resume o historiador Eric Williams, ativista negro que exerceu o cargo de premiê de Trinidad e Tobago, citado pelo jornalista.
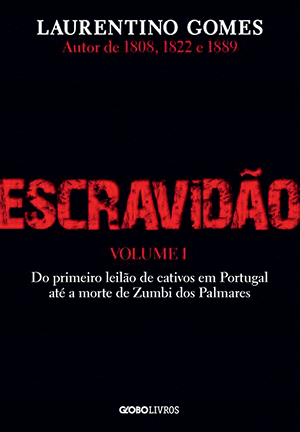
“Embora a escravidão já existisse na África antes da chegada dos portugueses, foi a altíssima demanda dos europeus por mão de obra cativa que possibilitou ao negócio negreiro no Atlântico atingir proporções tão significativas”, afirma Laurentino, para contestar a tese de que os lusitanos se limitaram a comprar cativos que lhes eram oferecidos pelos próprios africanos — o que derrubaria a versão “‘politicamente correta’ da história segundo a qual seriam os europeus os únicos e maiores culpados pela escravidão negra na América”. É verdade que o comércio negreiro contou com a participação dos africanos para que se tornasse “o maior e o mais internacional” de todos os negócios do planeta, porém seria um erro atribuir o tráfico “exclusivamente” a eles.
A “altíssima demanda” por escravos era uma consequência da conquista de novas terras — e do óbvio interesse em explorá-las. Em meados do século XVI, “Portugal já havia estabelecido o mais vasto império mercantil e colonial até então conhecido na história da humanidade”, narra o volume inaugural de Escravidão. Contando com o aval de várias bulas papais, os lusitanos não se intimidaram em recorrer ao regime escravocrata. O argumento teológico para o tráfico de pessoas vinha da ideia de que a escravidão seria usada para salvar a alma dos cativos. Apenas em 1888, às vésperas da Lei Áurea, o papa Leão XIII condenaria o escravismo.
Durante todo o período colonial, e mesmo depois da Independência, “o Brasil foi sinônimo de açúcar. E açúcar era sinônimo de escravidão. (…) Só a partir de 1831 um novo rei despontaria no horizonte da economia brasileira: o café. E o café era, também ele, sinônimo de escravidão”, sintetiza o jornalista em seu trabalho. Quanto aos cativos, eram reduzidos à condição de bens semoventes, como os animais, passíveis de ser vendidos, alugados, dados como pagamento de dívidas — apesar de, juridicamente, terem de responder por seus atos. Isso quando chegavam a pisar o solo nacional: de cada grupo de 100 escravos sequestrados na África, só quarenta continuavam vivos entre a captura e o fim da travessia do Atlântico. Quem sobrava era recepcionado por açoites — para não “mutilar” os cativos, o jesuíta italiano Jorge Benci recomendava, no século XVII, que as chibatadas não ultrapassassem “quarenta” por dia.
O jurista pernambucano Joaquim Nabuco, expoente do abolicionismo, insistia em que não bastava proibir a escravidão. Era preciso pôr fim à sua herança. Ao fechar um livro como o de Laurentino Gomes e refletir sobre a situação dos afrodescendentes no Brasil do século XXI, a pergunta incontornável que surge é: “Como fazer isso?”. A resposta, que naturalmente não vale só para a chaga da escravidão, pode estar nesta máxima do alemão J.W. Goethe: “Escrever a história é um modo de livrar-se do passado”.
Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2019, edição nº 2649


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO













