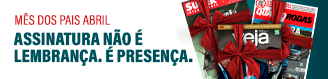‘O Homem do Norte’: quando brucutus vikings se encontram com Shakespeare
Filme atesta talento do diretor Robert Eggers

Em um vilarejo nórdico do início do século X, Amleth (Alexander Skarsgard) chega dando um show de barbárie. Afinal, ele é um berserker, modalidade mais brutal de guerreiro viking: aqueles brucutus que entram nas batalhas de peito nu, dispensando armadura e valendo-se simplesmente de escudo, machado e das mãos para lutar. Movido pela crença no furioso deus Odin, ele parte para cima do inimigo com destemor animalesco, não raro sob efeito de cogumelos alucinógenos. Após dois minutos de cena, restam crânios esmagados, olhos furados, muitos corpos dilacerados. Enquanto observa seus companheiros fazerem aquilo que os vikings de fato faziam ao saquear qualquer povoado — escravizar os homens para o trabalho bruto e as mulheres, para a cozinha e o sexo —, Amleth ouve alguém comentar que parte da “carga” humana capturada irá para a distante Islândia, que começa a ser colonizada por um rei chamado Fjölnir (Claes Bang), expulso da Noruega por outro líder.

Num instante, Amleth então revê sua vida. Quando criança, ele era o príncipe-herdeiro daquele reino e sobrinho de Fjölnir. Certo dia, seu pai volta da guerra e, no reencontro, um bobo da corte satiriza as supostas liberdades entre o tio e sua mãe, a rainha Gudrún (Nicole Kidman). O rei acha graça; Fjölnir não disfarça a tensão. No dia seguinte, Amleth e o pai sofrem uma emboscada. O rei é morto, e o assassino se revela o próprio Fjölnir. O menino foge, mas promete voltar para vingar o pai e salvar a mãe. Agora adulto e convertido em uma máquina de matar, ele dá um jeito de embarcar como escravo na encomenda para o tio usurpador, e assim desencadeia a trama soberbamente filmada de O Homem do Norte, em cartaz no país.
Vikings: A história definitiva dos povos do norte
Os vikings pontificaram na Europa medieval por menos de 300 anos, entre 793 e 1066. Perduram até hoje, porém, como símbolo de civilização regida pela agressividade. É desse modo que são celebrados na cultura pop, em séries como Vikings: Valhalla, ou adotados como mascotes do padrão branco e ariano em que se mira a extrema direita americana (a patética figura do grandalhão com chapéu de chifres na invasão do Capitólio resume a visão tosca do tema). Estudos arqueológicos recentes relativizam sua imagem de violência titânica. É inegável, no entanto, que as sociedades vikings eram regidas fundamentalmente pela testosterona — e, com sua sensibilidade peculiar, o diretor americano Robert Eggers leva esse impulso de competição autodestrutiva entre machos ao paroxismo em O Homem do Norte (leia a entrevista).

Aos 38 anos e autor de dois filmes igualmente excepcionais — o pop A Bruxa (2015) e o intimista O Farol (2019) —, Eggers se viu aqui premiado pela fama de diretor-prodígio: ganhou um orçamento muito mais robusto que o normal para uma produção independente, na casa de 70 a 90 milhões de dólares, encarecido pelo caos de filmar na pandemia. Mas que o dinheiro foi bem gasto é visível em cada detalhe. Eggers é assessorado por historiadores, mas não se amarra às convenções do realismo ilusório vendido por produções como a série Vikings: ancorado em sua pesquisa sólida, o filme dá vazão ao folclore e à religião desses povos com uma liberdade imaginativa que faz o espectador mergulhar na visão de mundo dos vikings — um misticismo feito de guerreiros mortos-vivos, sacerdotes macabros (Willem Dafoe e o islandês Ingvar Sigurdsson) e uma feiticeira fantasmagórica (a cantora Björk).
O Homem do Norte é um filmaço, mas não para ser sorvido como sessão de pancadaria ou ação. Para cada tanto de Conan, o Bárbaro (do qual Eggers extrai assumidamente sua coreografia da violência), há outro tanto, ainda mais colossal, de tragédia de Shakespeare. E não à toa: a lenda nórdica do príncipe Amleth foi a inspiração do bardo para seu Hamlet. Como no drama shakespeariano, o que está em foco é a húbris, obsessão por vingança tão desmedida e odiosa que só leva a mais dor e aniquilação. Eggers insere um ingrediente atual nesse clássico — a voz da mulher, abusada ou dona de seus desejos, é o elemento que mexe com o protagonista brucutu de Skarsgard. Nicole Kidman, como a rainha que se une ao rei usurpador, e Anya Taylor-Joy, escrava eslava com dons mágicos, desestabilizam uma sociedade em que a força bruta é a única certeza aparente. Se a testosterona cega os homens, a intuição feminina revela-se luz — e poder.
Publicado em VEJA de 18 de maio de 2022, edição nº 2789
*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO