Pérola negra
Jinga de Angola, rainha africana que desafiou Portugal no século XVII e manteve um ‘harém de homens’, enfim ganha biografia condizente com sua importância

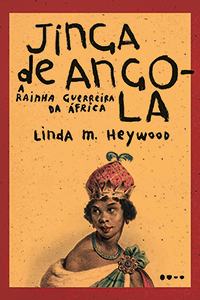
Ainda que mulheres raramente tenham chegado a posições dominantes no governo de Estados até o século XIX, contam-se às centenas os livros escritos sobre as poucas figuras extraordinárias que romperam essa barreira, como Elizabeth I (1533-1603), da Inglaterra, e Catarina, a Grande (1729-1796), da Rússia. Assim, nada justifica o menor interesse suscitado por outra governante de incontestável importância histórica: a rainha Jinga, de Angola (1582-1663) — que, à frente de exércitos poderosos, resistiu à colonização portuguesa no continente africano, fundou o próprio reino, pegou em armas, teve um “harém de homens” e se correspondeu até mesmo com o papa. Não menos triste é que a pouca atenção obtida por Jinga tenha inspirado apenas livros empenhados em degradá-la como pessoa, em vez de engrandecê-la.
É com tais considerações que a historiadora americana Linda M. Heywood abre sua biografia Jinga de Angola: a Rainha Guerreira da África. Na edição enriquecida com imagens, mapas e um posfácio de Luiz Felipe de Alencastro, a historiadora não se limitou a resumir os textos mais conhecidos sobre Jinga, de autoria de três Antônios: Gaeta, Cavazzi e Cadornega. Em vez disso, ela mergulhou em arquivos e consultou diversos documentos valiosos escritos em línguas como latim, português e italiano.
O livro começa situando o leitor nos contextos social e político da África central entre os séculos XVI e XVII. Quando os portugueses invadem a ilha de Luanda, em 1575, e iniciam o processo de conquista, havia na região Estados monárquicos bem estabelecidos, entre os quais os reinos do Congo e Ndongo. Os reis do Congo já eram cristãos desde os fins do século XV. A estratégia portuguesa, além da imposição militar, previa a cooptação cultural, cujo principal fundamento era ampliar a presença do cristianismo entre os povos locais.
É quando Jinga entra em cena. Seu irmão, Ngola Mbande, ainda era o rei dos ambundos do Ndongo no momento em que a envia a Luanda, como embaixatriz. A cena é célebre: o governador português a recebe sentado em uma cadeira imponente; e põe um tapete no chão, para que ela se sente num nível mais baixo. Jinga, então, manda uma escrava postar-se de quatro, e se senta sobre as costas dela.
O impacto foi enorme: Jinga, que também dominava a arte da oratória, sai do encontro sem reconhecer a soberania do rei português — coisa, aliás, que jamais viria a fazer. O batismo que aceitou dias depois (recebendo um nome cristão, Anna de Sousa) foi feito sob suas condições e não passou, para ela, de um rito de aliança entre duas coroas independentes.
E a história continua: Jinga vê seu filho assassinado; mata o sobrinho; talvez o próprio irmão; e se torna rainha. Enfrenta os colonizadores em batalhas tremendas, espetaculares, sempre postada na linha de frente, como general de seus exércitos. Há muita traição, muita matança. Jinga não aceita perder o que julga ser seu por direito: o reino do Ndongo. E, depois de sofrer derrotas contundentes e outro rei ser posto em seu lugar, decide se tornar uma guerreira jaga (ou imbangala, como prefere Heywood).
Os jagas foram uma etnia seminômade de caráter iniciático — ou seja, não definida por descendência ou lugar de nascimento, mas por um código de ética e ritos de passagem. As mulheres eram proibidas de ter filhos: as crianças jagas eram capturadas entre outros povos. Eles praticavam o infanticídio se filhos naturais nascessem nos quilombos, como se chamavam seus acampamentos de guerra. E também se devotavam a uma espécie de canibalismo ritual, vinculado às celebrações guerreiras.
Jinga se casa com o jaga Kassanje, o mais poderoso entre todos. Em pouco tempo, depois de sua iniciação, e já separada, passa a comandar exércitos imensos, mantendo um harém com dezenas ou centenas de maridos — todos obrigados a se vestir de mulher enquanto ela, Jinga, se vestia como homem. E é como jaga, assumindo todos os elementos culturais correspondentes, que Jinga se torna rainha de um reino novo, o de Matamba, depois de impor outras derrotas colossais aos portugueses.
A autora, afrodescendente, tinha uma agenda ao escrever a biografia de Jinga: destacar as questões de resistência, gênero e espiritualidade. Obteve imenso sucesso nos dois primeiros itens. Mas falha no terceiro. Preocupada em apagar a má imagem da rainha, ela exalta a conversão final de Jinga à religião de Roma, definida como “renascimento espiritual” e “revolução cristã”. No mesmo passo, reprova a poligamia, o infanticídio, o canibalismo, os sacrifícios humanos de jagas e ambundos — embora não faça nenhum reparo, o mínimo que seja, ao fato de Jinga ter vendido ou permitido a venda de dezenas de milhares de escravos, mesmo sabendo que a escravidão cristã dos europeus era infinitamente mais cruel e abominável que a africana — na qual o escravo era quase membro da família.
Linda Heywood não recrimina a rainha por ter mandado espancar e assassinar xingulas, os sacerdotes da religião tradicional de sua sociedade, que insistiam em praticar antigos cultos então proibidos. E a historiadora americana considera muito natural, e até justo, que Jinga, para pagar o resgate de uma única irmã, tenha enviado 130 escravos a Pernambuco. Da perspectiva brasileira, aliás, descendemos desses 130, que depois foram vítimas de estupros e torturas — e não da linhagem real.
O livro, apesar de tais falhas, é excepcional e imprescindível, por preencher uma lacuna sobre personagem essencial e dar a devida relevância aos feitos de Jinga. Mas a interpretação da história, nesses casos em que as diferenças culturais são extremas, exige sempre um olhar antropológico, um exercício de mediação entre verdades, e nisso a autora deixa a desejar. O leitor terá, ao menos, a chance de fazer esse exercício por si mesmo.
Publicado em VEJA de 13 de março de 2019, edição nº 2625

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br



 Os monstros da mitologia grega não são tão monstruosos assim, segundo estudo
Os monstros da mitologia grega não são tão monstruosos assim, segundo estudo









