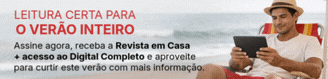Mitos contra o mito
Escrito para combater o governo Bolsonaro, 'Sobre o Autoritarismo Brasileiro' perde força por criticar idealizações da nacionalidade que poucos sustentam


O Brasil é um país livre, igualitário e justo no qual impera uma autêntica democracia racial; as mulheres vivem em condições de igualdade com os homens, a educação é de qualidade, o povo tem índole pacífica e os líderes são honestos. Se você acredita nisso, prepare-se: o novo livro de Lilia Moritz Schwarcz, Sobre o Autoritarismo Brasileiro, vai refutá-lo — o que não é tão difícil. A autora, antropóloga e professora da USP que se notabilizou por seus minuciosos trabalhos historiográficos, aqui opera numa chave mais sintética. Quer mostrar como ficções que se contam a respeito do Brasil servem na verdade para encobrir nossa realidade social problemática. Contudo, será difícil encontrar ao menos um autor sério deste século que defenda os velhos mitos da “democracia racial” e similares. A própria Lilia não identifica ninguém. Mas está bem claro qual é seu objetivo: combater uma narrativa ufanista dos tempos da ditadura que, com a ascensão de Jair Bolsonaro, parece voltar de maneira difusa.
Sim, a missão clara e inequívoca do livro é responder ao governo Bolsonaro. Trata-se, no entanto, de uma missão não declarada. A autora nem sequer consegue nomear o seu alvo: embora se refira ao governo diversas vezes, Lilia jamais alude ao presidente pelo nome. Não tem, contudo, nenhum problema em nomear os governos Temer, Dilma, Lula etc. O que explica esse silêncio? Um temor mágico de que falar o nome possa torná-lo mais perigoso? O medo não é um bom guia para a objetividade.
O livro dá todos os indícios de ter sido escrito às pressas, para sair neste momento acalorado da política nacional (a última página de texto é datada em 1º de março de 2019), e por isso é muito desigual. Carece de notas e é descuidado na revisão. Um exemplo: a autora cita (sem referência) uma frase do pensador francês Étienne de La Boétie, que viveu no século XVI, e afirma que ele se referia ao rei Luís XVI, que viveu no século XVIII.
Nos capítulos iniciais, somos levados por longos passeios históricos para entender melhor as origens do racismo e da corrupção. O livro é especialmente forte quando trata do Segundo Reinado e da República Velha, em que detalhes não muito conhecidos nos trazem problemas atuais em roupagens antigas. A política de concessão de títulos nobiliárquicos no Brasil imperial serve como um espelho da nossa política de privilégios e do jeitinho. O episódio do roubo das joias da Coroa ilustra a insatisfação popular para com um reinado visto como corrupto e inepto. São curiosidades que enriquecem nosso entendimento do Brasil.
Da metade do livro em diante, porém, a abordagem histórica é esquecida e recebemos uma avalanche de dados sem muito critério e com bastante redundância. O capítulo sobre violência dedica suas seis páginas iniciais a argumentar contra a posse de armas. Quanto mais avançamos na leitura, mais o livro se torna um grande catálogo das carências e violências do Brasil contra populações vulneráveis (negros, índios, mulheres, LGBTs etc.), e nada mais.
Autores são mencionados e imediatamente descartados. Na penúltima seção, por exemplo, uma referência é feita a Steven Levitsky, de Como as Democracias Morrem, por seu conceito de normas democráticas não escritas. O conceito não serve para construir um argumento: aparece de passagem, em uma linha, e desaparece em seguida para nunca mais voltar. O mesmo ocorre com outros autores.
Características nacionais não existem no vácuo. Nossas avaliações dependem, quase sempre, de comparações. E isso faz falta em diversos momentos. Tivemos governos autoritários? Sem dúvida. Mas basta comparar nossos períodos mais autoritários com experiências semelhantes em nossos vizinhos hispânicos para constatar o óbvio: apesar de repressoras e violentas, nossas ditaduras foram incomparavelmente menos brutais do que ditaduras à direita e à esquerda no restante da América Latina (Chile, Argentina, Cuba, Haiti, Venezuela e outros). Será que a comparação da corrupção brasileira com as demais revelaria algo semelhante?
Falando em corrupção, aqui Lilia se aproxima curiosamente do discurso bolsonarista. A visão que o livro traz sobre o tema já se tornou um lugar-comum: o Brasil é o país do uso privado da coisa pública. Nosso Estado serve a interesses privados, e não à nação. O próprio mecanismo da emenda parlamentar é colocado pela autora na conta de um condenável patrimonialismo. Nada tão diferente do que bradavam os manifestantes no dia 26 em seus ataques ao Congresso.
No fim das contas, em vez de contrapor à narrativa ufanista a complexidade da história que não se presta a receitas simples, Lilia constrói uma narrativa contrária e igualmente fictícia: a do Brasil como o pior lugar do mundo. A julgar pelo livro, somos o país mais racista (mas então como explicar sermos também o país mais miscigenado?), mais machista, apaixonado pelo autoritarismo, um verdadeiro pesadelo para minorias sexuais, e ainda tomado pela corrupção. E, se esse é o caso, qual o problema com o autoritarismo redentor que venha a erradicar as ratazanas oligárquicas no poder?
Movida pela necessidade de combater o governo Bolsonaro em caráter de urgência, Lilia Schwarcz não faz jus nem à sua excelência como historiadora nem à complexidade do Brasil. O que nos primeiros capítulos se desenha como uma tentativa de conectar passado e presente logo dá lugar à repetição de argumentos e dados que estamos cansados de ver, tudo para refutar uma visão idílica do país que provavelmente ninguém leva a sério. Nada de muito errado, mas também nada de novo.
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2019, edição nº 2637

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br