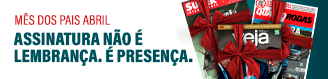Elisabeth Moss, a porta-voz do feminismo nas telas
Com o intenso 'O Homem Invisível', a atriz, como o faz em 'The Handmaid’s Tale', impõe-se como a heroína acidental da luta contra o sexismo e a opressão

Por meses, Cecilia (Elisabeth Moss) observa a rua pela janela. Olhos inchados e atentos, mãos trêmulas. Ela é desafiada pelo amigo e anfitrião (Aldis Hodge) a passar pela porta e chegar, ao menos, até a caixa de correspondência na calçada. Ao abrir a porta para se aventurar lá fora, sente como se o chão sumisse sob os pés. Os passos calculados são interrompidos quando Cecilia vê um homem e pensa ser seu ex-namorado — o carrasco responsável pelos traumas que a mantêm trancada dentro de casa. A cena de O Homem Invisível (The Invisible Man, Austrália/Estados Unidos, 2020), já em cartaz no país, resume as aflições da protagonista. Vítima de violência doméstica, Cecilia sofreu e ainda vai sofrer muito ao longo da renovada adaptação do clássico de H.G. Wells (1866-1946).
O trecho sintetiza também a força de Elisabeth Moss na pele de heroínas atormentadas que, à beira da loucura ou ameaçadas pela truculência, são obrigadas a encontrar uma coragem até então desconhecida dentro de si — e, de forma quase acidental, se tornam símbolos feministas. Se Cecilia enfrenta as dores de um relacionamento abusivo, outras personagens da atriz americana de 37 anos encaram dilemas femininos que vão do mais frugal aspecto do cotidiano ao assombro de uma realidade em ruínas.
O melhor exemplo é June/Offred, da série The Handmaid’s Tale. Escravizada pelo regime totalitário de Gilead, uma sociedade fundamentalista religiosa, ela é uma aia, nome dado à mulheres férteis obrigadas a participar de rituais reprodutivos da elite. As aias são forçadas ao papel por seus supostos deslizes do passado: divórcio, aborto e adultério são parte da lista que as leva a ser tratadas como inferiores. A conturbada protagonista nasceu no romance distópico da canadense Margaret Atwood, mas ganhou corpo e figurino simbólico em Elisabeth, que encarna com desenvoltura a figura sem grandes atributos obrigada a se adaptar ao novo status quo de um mundo ditatorial. “É interessante explorar a heroína comum”, disse a atriz em entrevista exclusiva a VEJA.

Lançada em 2017, a série pegou carona no feminismo crescente de Hollywood e na eleição de Donald Trump, virada política que trouxe à tona discussões sobre assédio e legalização do aborto — bandeira defendida por Elisabeth. O vestido vermelho e a touca branca notabilizados por sua personagem se tornaram não só visual obrigatório em manifestações feministas, mas também acenderam uma fagulha em pessoas comuns. “June fez com que mulheres me parassem na rua, ou me mandassem mensagens no Instagram, dizendo que se sentiram encorajadas”, conta Elisabeth. A rigor, a guinada para o posto de heroína feminista começou a ser desenhada dez anos antes, quando a atriz deu vida a Peggy Olson, a secretária que sutilmente enfrenta o machismo e ascende a um cargo de chefia no mundo publicitário nova-iorquino dos anos 60, retratado na série Mad Men, exibida entre 2007 e 2015.
+ Leia mais: Entrevista exclusiva com Elisabeth Moss
Filha de músicos de jazz, Elisabeth atravessou a infância dividida. Investia na formação como bailarina, mas fazia pontas em filmes e séries desde os 8 anos. A balança pendeu para a atuação quando veio o papel de uma adolescente suicida em Garota, Interrompida (1999). Aos 16 anos, Elisabeth foi saudada como revelação em Hollywood. A atriz cresceu sob os holofotes, mas manteve-se longe de controvérsias até se tornar a face do entretenimento feminista. Como todo símbolo, logo surgiu gente disposta a desconstruir sua imagem — e a atriz tem seu calcanhar de aquiles: é adepta da cientologia, crença sexista e homofóbica. Ao ser questionada sobre a condição paradoxal, ela se incomoda: “Tenho fé nos direitos humanos”.
Projetos como O Homem Invisível sugerem que ela é sincera. O filme mal encosta no clássico de Wells, em que um cientista descobre como ficar invisível e pratica crimes sob anonimato. Na nova adaptação, dirigida por Leigh Whannell, a trama tomou banho de loja para o século XXI. A protagonista Cecilia foge do namorado, que a mantém presa. Meses depois, ela recebe a notícia de que o ex se matou. Mas Cecilia passa a ser atormentada por algo que não pode ver. Tratada como louca, não convence ninguém de que o ex está vivo, invisível e no seu encalço. O roteiro é esperto, mas só fica de pé do começo ao fim graças à atuação de Elisabeth. Nas quase duas horas de tormento feminino, o espectador não consegue tirar os olhos dela. Resistir é preciso — mas sem perder o brilho.
Publicado em VEJA de 4 de março de 2020, edição nº 2676


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO