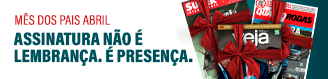O que muda para o Brasil com a vitória de Biden
Apesar de Bolsonaro publicamente insistir em esperar para ver se Trump vira o jogo na marra, o país se mexe para se ajustar ao novo cenário geopolítico

Declarado vencedor da eleição nos Estados Unidos, o democrata Joe Biden montou seu escritório de presidente eleito e arregaçou as mangas. Sem nenhuma cooperação do derrotado Donald Trump, ressalve-se — entrincheirado na Casa Branca, o republicano continua tuitando denúncias vazias de fraude, entrando com pedidos de recontagem (o que é esperado, já que muitas votações foram apertadíssimas) e dando ordens aos órgãos públicos para não cooperarem de forma alguma. Na cruzada para fazer da sua Casa Branca o oposto da de Trump, Biden já montou uma força-tarefa concentrada em baixar os deploráveis recordes americanos em casos confirmados e mortes pelo novo coronavírus. “Eu imploro, usem máscara”, declarou, deixando vazar que até cogitava torná-la obrigatória, uma ordem fora de seu alcance no país do livre-arbítrio. Também é provável que reative e até amplie a distribuição de cheques às famílias e os subsídios a negócios para reativar a economia. “Vamos reconstruir a classe média, que é a espinha dorsal da nação”, disse no discurso da vitória.
Outro movimento mais do que esperado é a reintegração dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que fixa metas internacionais para a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Sustentabilidade é uma das bandeiras de Biden, como bem sabem os brasileiros familiarizados com a troca de farpas, nos últimos meses, entre o presidente eleito, que ameaça organizar um esforço global para financiar a preservação da Amazônia, e Jair Bolsonaro, abespinhado com o que considera interferência inadmissível nos assuntos pátrios. Parceiro de primeira hora da fórmula Trump de fazer política, e ainda confiante na judicialização dos votos, Bolsonaro adia o reconhecimento da vitória de Biden enquanto põe lenha — neste caso, só modo de falar — na fogueira ambiental. Na terça-feira 10, voltou ao assunto, belicosamente: “Apenas diplomacia não dá. Quando acabar a saliva, tem de ter pólvora”, esbravejou, numa declaração talhada para virar meme. Tentar antecipar como Biden e Bolsonaro vão se relacionar a partir de 20 de janeiro, dia da posse do americano, tem sido um dos exercícios mais praticados atualmente em Brasília.

No dia seguinte à aclamação de Biden, um domingo, Bolsonaro se reuniu com seus principais conselheiros para avaliar a situação. Os militares, que nunca acharam saudável o apego incondicional a Trump, propuseram ao presidente que divulgasse em suas redes sociais um comunicado reconhecendo a vitória do democrata. A ala ideológica foi contra. O tom subiu a ponto de, a certa altura, um ministro do primeiro grupo dizer (exageradamente) que Bolsonaro corria risco de sofrer impeachment por não reconhecer o poder do voto, enquanto outro o advertia de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, signatário de uma nota de congratulações, já estava capitalizando o apoio ao americano. Em meio à batalha de versões e análises, Bolsonaro perguntou a sua equipe de assuntos internacionais qual era a chance, de zero a dez, de Trump reverter a derrota e ser reeleito. A surpreendente (e equivocada) resposta foi: “Sete”. Ele decidiu manter a esperança na virada.
Indo além da batalha judicial travada agora por Trump, o Planalto sustenta a expectativa de que o resultado vá parar na Suprema Corte — onde, em 2000, diante da ambiguidade de algumas apurações, o democrata Al Gore, vencedor nas urnas, perdeu a Presidência para George W. Bush. Nas contas dos assessores da Presidência, dos nove juízes, seis votariam a favor de Trump. Até agora, porém, não há nenhuma evidência concreta de fraude na eleição americana, nem motivo para o assunto ser examinado pelo topo da Justiça. Detalhe: em 2000, Bush havia vencido nas urnas que estavam sub judice. “É difícil provar irregularidades em uma margem de 53 000 votos na Pensilvânia e de 14 000 na Geórgia”, admite um conselheiro de Bolsonaro, citando os dois estados com resultados mais controvertidos.

Cada dia que passa torna-se mais evidente que Trump não vai ganhar nenhuma batalha judicial e deverá voltar mesmo para sua casa. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos três dias depois da consagração de Biden mostra que 80% dos americanos reconhecem a legitimidade do resultado e só 3% ainda apostam na reeleição. Mesmo com a torcida para que algo inusitado ocorra, na terça-feira 10 os ministros-símbolo da ala ideológica, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, participaram juntos de uma reunião previamente agendada com Keith Krach, subsecretário de Estado para crescimento econômico, energia e meio ambiente, e o embaixador americano em Brasília, Todd Chapman. Os dois homens de Trump sinalizaram que, seja quem for o ocupante da Casa Branca, a diplomacia entre os dois países seguirá de forma pragmática, embasada nos diversos interesses comuns.
Apesar de não terem jogado a toalha, integrantes do governo brasileiro começam a esboçar um plano B um tanto mirabolante, que contaria com Araújo, o chanceler que abomina temas caros a Biden, como multiculturalismo e acordos globais. Ocorre que em 2013, quando documentos secretos divulgados pelo ex-analista da CIA Edward Snowden revelaram que os serviços secretos americanos espionavam a presidente Dilma Rousseff, Araújo, que trabalhava na embaixada em Washington, chegou a ter contato com o vice-presidente Biden, encarregado por Barack Obama de pôr panos quentes no assunto. A ideia seria ele retomar esse contato. Outra proposta (digamos, excêntrica) teria partido de Salles, visto no exterior como o porta-voz das queimadas e do desmatamento: sugerir a Bolsonaro enviá-lo para um tête-à-tête sobre a Amazônia com a vice-presidente eleita, Kamala Harris (leia na pág. 62). “Temos de inverter a situação. Em vez de deixar os Estados Unidos pressionarem o Brasil, nós é que temos de pressioná-los, jogando a responsabilidade no colo do Biden”, arriscou um assessor palaciano.
Na avaliação de integrantes do governo de Bolsonaro, Biden presidente não significa que os Estados Unidos isolarão o Brasil, primeiro por causa do volume de investimentos americanos aqui, e também pelo fato de o país ter na China seu principal parceiro econômico — situação que Washington gostaria de reverter, sobretudo quando se aproxima a disputa, no ano que vem, pelo leilão da frequência 5G no país, ponto explosivo da guerra fria entre as duas potências que não deve arrefecer na gestão democrata. Nos bastidores, ressalta-se que os dois países continuam conversando e a relação é à prova de abalos. “O Brasil está entre as dez maiores economias do planeta e exporta para os Estados Unidos uma gama diversificada de produtos. Isso não mudará”, diz José Botafogo Gonçalves, embaixador e ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Até a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris é vista em Brasília como uma possibilidade de aplainar arestas, uma vez que o Brasil continua signatário e Bolsonaro já sinalizou que assim permanecerá. “Na questão do meio ambiente, Biden pode ser até melhor do que Trump para o país”, avalia um ministro do governo. Afinal de contas, a descarbonização da economia prevista no acordo vai alavancar o mercado de combustíveis menos poluentes, um fator do qual o Brasil pode tirar grande vantagem. “A eleição de Biden sinaliza a perda de força do petróleo. Temos abundância eólica, solar e biocombustíveis. O país precisa se preparar para fazer a transição”, diz David Zylbersztajn, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Conhecido pela simpatia e afabilidade, Biden tem experiência em política internacional e, ao contrário da maioria dos presidentes americanos, conhece as particularidades do Brasil, onde esteve duas vezes durante o governo Obama. Na primeira, em 2013, tentou viabilizar a venda de caças americanos para a FAB (não conseguiu) e chamou atenção em Brasília por anotar em um caderno todas as reclamações que ouviu de membros do governo. Poucos meses depois, enviou respostas a cada uma das questões levantadas. Em 2014, voltou para desarmar a crise desencadeada pelos documentos de Snowden, e dessa vez teve sucesso. “Felicitei Obama por ter um vice-presidente tão sedutor”, disse Dilma na época. “Aquele homem seria capaz até de vender gelo no Canadá.”
Por mais que se apresente como a antítese de Trump, Biden não fará o mundo voltar ao que era antes da ascensão do milionário que fez do confronto e da agressividade dois pilares do desempenho político — até porque os 72 milhões de americanos que votaram no republicano provam que seu populismo de direita permanece forte. Isto posto, não há dúvida de que o derretimento do lema “Os Estados Unidos em primeiro lugar” — que, para Biden, “só teve como resultado uns Estados Unidos sozinho” — vai mudar o rumo das relações internacionais. Do ponto de vista das questões de comportamento, espera-se uma liderança menos xenófoba e preconceituosa. Nas questões econômicas, um menor protecionismo — o que pode ser bom para o Brasil. “A diplomacia brasileira precisa restaurar sua capacidade única de construir pontes, alinhando o país às necessidades do século XXI”, diz Sérgio Amaral, embaixador do Brasil em Washington entre 2016 e 2019 e hoje conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Vive-se, enfim, um momento histórico: a maior economia do planeta vai mudar de rumo.
Colaborou Felipe Mendes
Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 PM do Rio ocupa favela à procura de homens que mataram coronel
PM do Rio ocupa favela à procura de homens que mataram coronel