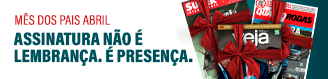Estados Unidos: coronavírus, desemprego e, agora, conflito racial
A resposta de Trump: mais lenha na fogueira

Na história dos Estados Unidos, país de superlativos, são até comuns os episódios de convulsão social. Não faltam conflitos raciais explosivos, a economia às vezes despenca de repente e dizima mercados, como aconteceu em 1929, os governantes tiram a nação do prumo e pelo menos duas epidemias — a gripe espanhola, em 1918, e a aids, no início dos anos 1980 — são tristes capítulos. Neste momento, o clima de nervosismo e medo típico das situações de crise novamente toma conta do país, com uma diferença notável: pela primeira vez, é tudo junto agora. A pandemia de Covid-19 já contaminava quase 2 milhões de pessoas, a atividade econômica paralisada contava 35 milhões de desempregados e o governo confrontava cientistas e países aliados sem pesar consequências quando, na última segunda-feira de maio, em uma avenida de Minneapolis, cidade do Centro-Oeste, um policial branco prensou o joelho por oito minutos e 46 segundos no pescoço de um negro algemado e deitado no asfalto. Na frente de celulares que filmavam a cena, George Floyd, 46 anos, repetiu: “Não consigo respirar” e “Me deixe levantar”. Não deixaram. Ele morreu em seguida.

A cena chocante abriu as comportas do sempre latente confronto racial nos Estados Unidos. Pela televisão e nas redes sociais, imagens de passeatas pacíficas se misturaram às de quebradeira generalizada, dando a medida da mais contundente onda de manifestações, vandalismo e repressão em território americano desde o turbulento movimento pelos direitos civis, no fim dos anos 1960. De Minneapolis, os protestos pela morte estúpida de Floyd — acusado de tentar pagar um maço de cigarros com uma nota falsa de 20 dólares (veja o quadro na pág. 60) — cresceram em volume e em violência, tomaram as principais cidades do país e chegaram a Paris, Londres, Berlim, ao mundo. “É difícil lembrar uma semana tão avassaladora para a história americana quanto esta que passou”, resume Joseph Siracusa, professor de segurança e diplomacia da RMIT University, de Melbourne.

Ignorando o toque de recolher, radicais tacaram fogo em delegacias, carros e lojas de Minneapolis. O quebra-quebra estendeu-se às lojas luxuosas da Quinta Avenida e outros pontos de Nova York, onde Macy’s e Bloomingdale’s tiveram vitrines estilhaçadas e produtos roubados. Com os parques em volta tomados por protestos, a Casa Branca teve todas as luzes apagadas e o presidente Donald Trump foi levado para um bunker subterrâneo. Policiais investiram contra uma manifestação pacífica com bombas de gás e pauladas para que o presidente pudesse caminhar 300 metros até a porta de uma igreja e posar segurando uma Bíblia. A Guarda Nacional foi convocada em 140 cidades.

Diante da reação popular, o policial que matou Floyd, Derek Chauvin, foi preso sob acusação de homicídio em segundo grau e os três que o acompanhavam também responderão a inquérito (o que não é a regra). George Floyd mereceu brevíssima atenção por parte de Trump, na forma de um telefonema à família. “Foi tão rápido que eu não consegui dizer uma palavra”, relatou depois o irmão do morto. No mais, o presidente passou a semana acirrando os ânimos com ameaças de “quando os saques começam, os tiros começam”, promessas de acionar as Forças Armadas contra os “atos terroristas” e a proclamação de que “eu sou o presidente da lei e da ordem”. Não é exatamente o que crê um naco da população. Os brancos deram os braços aos negros nas passeatas, a própria polícia aderiu às marchas em alguns pontos — na Flórida, um grupo de agentes se ajoelhou, no gesto típico de protesto dos negros — e as redes sociais estamparam quadrados pretos no lugar de vídeos e fotos. Dentro das casas de bairros mais ricos, contudo, boa parte dos americanos se sentia encurralada e amedrontada diante da tremenda turbulência.

Enquanto as ruas pegavam fogo, a pandemia de Covid-19, que já matou mais de 100 000 no país, continuou se espalhando. Os Estados Unidos, como outras partes do mundo, estão começando a se mexer para voltar à normalidade possível (veja reportagem na pág. 64), mas em muitos locais esse movimento ocorre de forma irresponsável, com o beneplácito de um presidente assombrado pelo efeito eleitoral da hecatombe econômica e empurrado pela desatinada convicção de que quarentena é exagero.
ASSINE VEJA

Assoberbado de problemas internos, Donald Trump tem tratado os aliados internacionais com desinteresse, na melhor das hipóteses, e puro desdém, na pior. Sem consultar ninguém, removeu os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, o centro das medidas de amplo alcance relativas à pandemia. Sem apoios decisivos, insiste em responsabilizar a China — com quem trava uma guerra surda pela hegemonia mundial — pela disseminação do novo coronavírus e exigir reparação. Contava com o trunfo da reunião de cúpula do G7, agendada para 11 e 12 de junho em Washington, para exaltar a normalidade, mas Angela Merkel, chanceler da Alemanha, avisou que não iria, dando a desculpa do novo coronavírus. Emmanuel Macron, da França, e Boris Johnson, do Reino Unido, hesitaram, e a reunião ficou para setembro. Alegando que o grupo está obsoleto (no que não deixa de ter certa razão), Trump cogita chamar os governantes amigos da Índia, Austrália e Coreia do Sul (o Brasil está tentando empurrar a porta), além de Vladimir Putin, da Rússia. “As fraquezas dos Estados Unidos estão à mostra e a sensação é de que o imperador está nu”, diz Julianne Smith, do centro de estudos German Marshall Fund, de Washington.

Pesquisas recentes instalam o democrata Joe Biden com mais de 10 pontos de vantagem nas intenções de voto para a eleição de novembro. Quanto mais a distância aumenta, mais virulentos ficam os tuítes e as falas presidenciais, um recado direto aos corações e mentes conservadores que elegeram Trump em 2016 e que tiveram a confiança abalada pela crise. A experiência mostra que dureza em momento de tensão racial pode render votos: autor do refrão da “lei e ordem”, Richard Nixon venceu as eleições de 1968, quando o país atravessava o turbilhão do movimento negro. A insistência de Trump em retomar a atividade econômica, seja ou não esta a melhor hora, também é vista como vital para sua reeleição. “O presidente não conseguirá ganhar com base apenas na personalidade. Desta vez, é a economia ou nada”, avalia Charlie Black, conselheiro em todas as campanhas presidenciais republicanas desde 1972. Imune a compromissos e gestos conciliadores, porém, o Trump entrevisto na pandemia e devassado no clamor dos protestos parece mais propenso a destroçar do que a remendar os rasgos do país que dirige. Um sério material para reflexão dos imitadores de Brasília.









Publicado em VEJA de 10 de junho de 2020, edição nº 2690