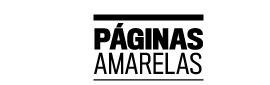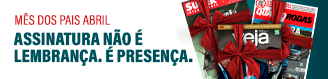Anna Lembke, de ‘Nação Dopamina’: “A internet é uma droga”
A respeitada psiquiatra americana diz que as redes agravaram o drama social do vício — e faz um alerta sobre a liberação da maconha

A psiquiatra americana Anna Lembke, de 55 anos, é uma das mais respeitadas especialistas em dependência química da atualidade. Professora da Universidade Stanford e chefe de uma clínica da instituição voltada para o estudo do tema, ela se tornou popular ao falar de vícios e transtornos de saúde mental de forma simples, acessível e esclarecedora. Seu livro Nação Dopamina (Editora Vestígio) é best-seller mundial e, por aqui, se destaca entre os títulos mais vendidos de não ficção. Já Nação Tarja Preta chegou ao país recentemente como um alerta sobre o crescimento nas prescrições de opioides e psicotrópicos. Nesta entrevista a VEJA, Lembke fala sobre os perigos das chamadas “drogas digitais” (com as redes sociais à frente), os receios quanto à liberalização da maconha e dos psicodélicos — e as implicações sociais de viver em um mundo que estimula a busca por prazeres artificiais.
Em Nação Dopamina, a senhora aborda os vícios de maneira abrangente. Qual a ideia fundamental que norteia sua análise? Que qualquer pessoa pode desenvolver um vício. Na era moderna, é fácil perceber esse problema, porque sabemos muito bem que os celulares, a internet e as mídias digitais são drogas potentes. Elas ativam os mesmos circuitos que as drogas mais tradicionais, como o álcool. Isso significa que liberam dopamina — nosso neurotransmissor de prazer — no sistema de recompensa do cérebro. Quanto mais dopamina liberada, mais viciante é a experiência.
Por que ainda há enorme estigma sobre o vício? As sociedades estigmatizam certas condutas para impedir que as pessoas se envolvam em discussões comportamentais. Quanto à adição, o estigma se tornou tão extremo que culpamos e marginalizamos um segmento cada vez maior da sociedade, quando deveríamos atribuir isso ao mundo que temos criado, onde quase tudo pode se tornar uma droga. Tudo é mais acessível, mais abundante. Em vez de ver a dependência como um problema de força de vontade ou caráter, devemos pensar como uma enfermidade que resulta da incompatibilidade entre nosso maquinário neurológico ancestral e o mundo de hoje. É um problema de saúde pública.
Quem são as pessoas mais vulneráveis às drogas digitais? A maioria de nós consegue perceber que estamos em um vórtex e se autocorrigir, mas de 10% a 15% da população acabará com dependências potencialmente prejudiciais a essas tecnologias, e necessitará de intervenção profissional. Ainda não temos certeza de quais são os fatores de risco preexistentes, mas é possível que sejam alguns dos mesmos que se aplicam às drogas tradicionais, como ter um pai ou avô biológicos que lidam com o vício. Outros fatores são a pobreza e o desemprego.
“Não vejo como algo irracional conceituar um smartphone como semelhante a um maço de cigarros, em termos de potencial viciante. Todas as escolas primárias deveriam abolir os celulares”
Nosso apego às redes sociais pode estar ligado ao aumento de doenças mentais? Nos últimos vinte anos, vimos um número crescente de pessoas lutando contra a ansiedade, a depressão e, especialmente nas Américas, aumento nas taxas de suicídio. É claro que os problemas de saúde mental são multifatoriais. Eu nunca diria que é tudo culpa dos meios digitais, mas é uma hipótese razoável que essas tecnologias contribuam para o cenário. Porque temos visto, clinicamente, que, quando as pessoas se afastam das redes por um período de tempo, seu humor e os sintomas de ansiedade tendem a melhorar. Há ainda outros riscos à saúde mental em razão do uso exacerbado das redes: comparação a uma infinidade de pessoas, hostilidade, bullying, humilhação, cancelamento, e os algoritmos de inteligência artificial projetados para nos levar a confrontos e conteúdos mais extremos.
Quais as consequências a longo prazo desse tipo de dependência? Já estamos vendo as consequências, com taxas recordes de jovens com depressão, ansiedade, automutilação, desatenção, sensação de perda de significado e propósito, e até transtornos de personalidade. A boa notícia é que muitos estão percebendo que o tempo que passam no mundo virtual está, na verdade, piorando suas vidas, e estão gradualmente se desconectando.
A senhora recomenda um “jejum de dopamina”. Como isso funciona? Quando usamos ou fazemos algo que nosso cérebro identifica como importante para a sobrevivência, ele libera muita dopamina de uma só vez, e a sensação é boa. Com a repetição constante, o cérebro tenta acomodar o aumento diminuindo a produção e transmissão da dopamina, o que resulta num déficit crônico. Então, ficamos inquietos com o desejo de usar a droga, para evitar nos sentir miseráveis — em suma, voltar a níveis saudáveis de dopamina. É esse mecanismo que impulsiona aquele desejo de assistir a mais um vídeo no TikTok, por exemplo. A ideia do jejum, uma espécie de detox, é dar ao cérebro tempo suficiente (cerca de três a quatro semanas) sem altas recompensas para que ele retorne ao nível de dopamina ideal. Isso não cura o vício, mas ao menos mitiga o ciclo e permite a autoanálise de nosso comportamento.
Há algo que os governos possam fazer contra a dependência? Muita coisa. Nos Estados Unidos, o governo já interveio: não permitimos que crianças apostem em cassinos, ou que comprem cigarros e bebida alcoólica, nem que as pessoas fiquem embriagadas e dirijam. Não vejo como algo irracional conceituar um smartphone como semelhante a um maço de cigarros, em termos do potencial viciante. Todas as escolas primárias deveriam proibir os celulares, para garantir que as crianças se concentrem em aprender. Tem de ser uma política de cima para baixo, vinda dos governos locais e federais, que se aplique igualmente a todos. A China determinou que os jovens não tenham acesso a videogames por mais que três horas semanais, e somente às sextas e nos fins de semana.
Seu segundo livro publicado no Brasil, Nação Tarja Preta, foi escrito em resposta à epidemia de opioides nos Estados Unidos. Como está a questão hoje? Ainda não temos a situação sob controle. A prescrição de opiáceos diminuiu cerca de 50% desde 2012, mas muitas gerações já tinham se tornado dependentes. Muitas pessoas passaram a recorrer a substâncias como heroína e fentanil, que é cinquenta a 100 vezes mais potente que a morfina. E muito mais letal: uma “dose terapêutica” já é muito próxima da dose mortal. Por isso, há taxas crescentes de mortes por overdose relacionadas a opioides, mesmo enquanto corrigimos nossos erros.
Está em curso no Brasil um julgamento sobre a descriminalização da maconha. Qual sua percepção sobre o tema? O principal é que não há evidências confiáveis de que a Cannabis funcione para tratar transtornos de saúde mental, como costuma ser disseminado. Há bons indícios de que funcione, sim, para dor, espasmos e alguns efeitos colaterais da quimioterapia. Mas são estudos de curto prazo. É importante reconhecer as limitações dos dados. Além disso, quando se legaliza qualquer droga, a tornamos mais acessível. Mais pessoas irão utilizá-la, e será mais danoso. Tem sido assim em diversos países. Muitos apontam Portugal como exemplo de sucesso, mas eles já tinham diretrizes para direcionar as pessoas a centros de tratamento de dependência, e é por isso que funciona por lá. Não se pode fazer a descriminalização sem ferramentas para socorrer os que serão prejudicados pelo aumento do acesso.
E quanto ao uso terapêutico e medicinal de psicodélicos como a psilocibina, em pauta nos Estados Unidos? Os dados também são extremamente preliminares. Não são evidências legítimas de segurança, e só muito limitadas quanto à eficácia ou ao benefício. Ensaios clínicos marcados por impasses metodológicos estão subnotificando os danos — e eles são enormes e imprevisíveis, indo da psicose ao suicídio. Ou seja, é potencialmente perigoso e pode não funcionar melhor que medicamentos já conhecidos. A discussão que vemos em torno dos psicodélicos faz lembrar as propagandas enganosas que empresas farmacêuticas perpetraram no passado, levando à epidemia de opiáceos ao alardear que são eficazes e seguros, desde que prescritos por um médico. Muitos envolvidos nessas pesquisas fazem parte da indústria que produz essas substâncias, interessada em ganhar bilhões de dólares com isso.
“É triste recorrer a substâncias que nos ajudem a não comer demais? Bem, estamos nesse ponto da história. O Ozempic evidencia como é difícil ser um humano na modernidade”
Os índices de prescrição de psicotrópicos são mais elevados para grupos mais vulneráveis da sociedade. O que isso revela? Sugere que estamos tentando remediar problemas sociais graves em vez de resolvê-los, e as mulheres, crianças e pessoas que vivem na pobreza são as vítimas disso. Ando fascinada com estudos que examinaram os resíduos de esgoto em determinados locais, sugerindo que nos bairros mais pobres, no mundo todo, há as taxas mais altas de pessoas consumindo drogas psiquiátricas. Outros dados mostram, por outro lado, que nos países onde as pessoas têm mais acesso a tratamentos de saúde mental, e onde são prescritos mais remédios tarja preta, as taxas de depressão, ansiedade e psicose estão aumentando. É paradoxal — e assustador.
O Ozempic, medicamento para tratar diabetes tipo 2, tem sido usado como droga para emagrecimento. Como analisa isso à luz de seus estudos? Vivemos em um mundo com abastecimento alimentar superabundante, adulterado com a adição de gorduras, açúcares, sais e saborizadores. É um ambiente que conspira para engordar todos nós. O Ozempic e semelhantes ilustram que não se trata de um problema de caráter ou força de vontade individual, mas sim de uma discrepância entre nosso organismo, preparado para a escassez, e o mundo em que vivemos agora. Penso que, em algum nível, todos nós temos transtornos alimentares por causa disso. É triste que alguns recorram a substâncias que nos ajudem a não comer demais? Bem, é nesse ponto que estamos na história da humanidade. O Ozempic evidencia como é difícil ser um humano na modernidade.
Seus livros mostram que a sociedade atual evita a dor e o tédio a qualquer custo. Como chegamos a isso? À medida que fizemos do mundo um lugar mais abundante, controlado e confortável, também adaptamos nossa narrativa coletiva e definimos que a dor e a insatisfação são patologias. É uma noção moderna. Até cerca de 150 ou 200 anos atrás, a dor era parte do cotidiano. Também se expandiu a interpretação dos conceitos freudianos sobre o inconsciente e como eventos da infância contribuem para a psicologia adulta. Agora, vejo pacientes que até exageram ou inventam traumas para justificar por que estão infelizes. Não de forma consciente ou intencional, mas é o que acontece. Vivemos em tempos estranhos.
Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863