Sábado, 27 de outubro de 2018, véspera do segundo turno da eleição presidencial. O candidato Jair Bolsonaro posta nas redes sociais um vídeo para reforçar um de seus principais compromissos de campanha: estabelecer uma nova forma de fazer política, sem o toma lá dá cá que marcou a história brasileira. “Qualquer presidente que, porventura, distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio no Parlamento está infringindo o artigo 85, inciso II, da Constituição. E daí? Qualquer um pode, se eu der, por exemplo um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, me questionar que estou interferindo no livre exercício do Poder Legislativo”, afirmou.
Segunda-feira, 20 de abril de 2020: o presidente aparece em outro vídeo, agora de um encontro cheio de sorrisos com o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), um dos líderes do Centrão, que reúne mais de 200 parlamentares e é decisivo para aprovar — ou barrar — qualquer coisa no Congresso. E que fez fama pela desenvoltura com que negocia cargos em qualquer gestão em troca de apoio. O bloco anda agora em estágio avançado de namoro com o governo que chegou ao poder dizendo que jamais repetiria os vícios da chamada velha política.
Nos últimos anos, Bolsonaro passou de um fenômeno eleitoral que deixou na poeira os partidos tradicionais a um governante acossado por uma grave crise, desencadeada na esteira da pandemia do coronavírus, mas anabolizada por sua capacidade inesgotável de cavar dia após dia o seu isolamento político. Acuado, percebeu que só resta costurar uma coalizão nos moldes tradicionais. O movimento é eticamente questionável, sobretudo para alguém que jurou não recorrer a esse tipo de expediente. Do ponto de vista prático, porém, faz todo o sentido: pode garantir governabilidade e, de quebra, um colchão de apoio contra o fantasma do impeachment.

A aproximação com o Centrão representa um dos principais atos da tentativa de uma refundação da gestão Bolsonaro às pressas, concebida dentro do Palácio do Planalto. A primeira versão do governo acabou na sexta-feira 24, com a traumática saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça (veja a reportagem na pág. 30). O rompimento com o herói da Lava-Jato e as conversas avançadas com a porção mais fisiológica do Parlamento mostram que, em sua nova fase, o governo prefere enrolar a bandeira anticorrupção agitada com entusiasmo no pleito de 2018 em troca do pragmatismo político capaz de garantir sua sobrevivência.
Os principais líderes do bloco são investigados, indiciados, denunciados, réus ou condenados por corrupção. Alguns estiveram até presos, como Valdemar Costa Neto (PL) e Roberto Jefferson (PTB), dois personagens célebres do escândalo do mensalão. Diante do aumento da instabilidade de seu mandato, Bolsonaro terá de ceder cada vez mais às velhas raposas de Brasília em busca de salvação. Não que seja neófito nisso. Um primeiro ensaio se deu com a reforma da Previdência, quando prometeu emendas e cargos para aprovar o projeto. Mas à época sofreu com uma articulação política mambembe. Agora, tenta formar uma base política que garanta um mínimo de estabilidade para ele no Parlamento. Para evitar o afastamento, são necessários 172 votos, de um total de 513 deputados. Parece pouco, mas hoje o presidente tem, formalmente, apenas o apoio de metade do PSL — cerca de 25 parlamentares.

A ida do governo ao balcão de negócios da política vai custar caro. O Centrão já colocou para circular a lista dos cargos que precisam estar na mesa de negociação. O novo amigo do presidente, Arthur Lira — cuja ex-mulher Jullyene Lins afirmou a VEJA em dezembro passado que ele tem um patrimônio oculto de pelo menos 40 milhões de reais —, atua em dobradinha com o presidente de seu partido, senador Ciro Nogueira (PI) — este acusado pela Odebrecht de receber 7,3 milhões de reais como propina —, para abocanhar o que pode. De quebra, Lira tenta se cacifar também para substituir Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara em 2021 com o apoio do bolsonarismo. “Já fui do PP (antigo nome do Progressistas) por mais de dez anos. Por que não vou conversar com eles que foram meus colegas?”, questionou Bolsonaro na terça 28.
O partido aguarda a nomeação de Marcelo Lopes da Ponte, ex-chefe de gabinete de Nogueira, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo orçamento é de 54 bilhões. Também está de olho na Superintendência de Seguros Privados (Susep) e em secretarias do Ministério da Agricultura. Ainda disputa a presidência do Banco do Nordeste com o PL, dirigido por Costa Neto, que já tem reservada a Secretaria de Vigilância em Saúde, o principal órgão de formulação de estratégias contra o coronavírus. O ex-ministro Gilberto Kassab (PSD) pode ficar com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e parte do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A negociação é tão explícita que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) disse a quem quisesse ouvir que o governo havia lhe oferecido o Porto de Santos, histórico polo de falcatruas, mas que ele recusara porque não era a hora de entrar no governo — mas, é claro, segue negociando.

Parlamentares que acompanham as barganhas explicam que a intenção do Planalto é esvaziar uma das principais atribuições de Maia: a de montar a famosa lista de cargos em estatais. Com o governo sem base no Congresso, até agora cabia a Maia colher as reivindicações dos deputados e levá-las aos articuladores do governo. A diferença apontada por deputados é que antes os pedidos não avançavam e ficavam restritos a postos de menor influência. “Os cargos agora têm relevância maior, têm uma abrangência nacional e conseguem fazer com que todos os deputados daquele partido consigam brilhar na ponta da linha”, diz uma liderança palaciana. Um dos que andam anotando esse tipo de pedido é o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO). Foi ele quem articulou a ida de Flávio Bolsonaro ao Republicanos, presidido pelo pastor e deputado Marcos Pereira (SP), que reivindica a Secretaria Nacional de Mobilidade e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), além de uma vice-presidência da Caixa, que já ocupou no governo de Michel Temer. À época, Joesley Batista, dono da JBS, afirmou que a direção do banco facilitou um empréstimo de 2,7 bilhões de reais à companhia em troca de propina de 6 milhões de reais a Pereira.
Já o MDB no Senado quer a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). O governo, porém, já havia prometido que deixaria o órgão com o DEM, que não quer largar o osso. Até Roberto Jefferson (PTB) saiu da sombra. Em tom de denúncia, passou a alardear um plano articulado por Maia para derrubar o governo. Enquanto isso, em silêncio, trabalha para a recriação do Ministério do Trabalho, que a sigla já controlou no passado. “Falta discutirmos mais seriamente com os deputados para oficializarmos (a aliança)”, afirmou Jefferson. As negociações em andamento poderão ter o efeito colateral de levar a novas defecções no governo. A ministra Tereza Cristina (DEM), da Agricultura, cansada de atuar como bombeira nas sucessivas crises com o agronegócio, ameaça deixar o cargo se o Palácio do Planalto lotear os postos que controla. Marcos Pontes, titular da pasta de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é outro cotado para deixar o governo na bolsa de apostas de Brasília, caso um naco importante de seu ministério seja entregue a Kassab.

O desenho do “governo Bolsonaro — parte 2” é feito com a participação efetiva da ala militar, cujo líder é Braga Netto, sempre à mesa com o Centrão, ao lado de outro general da cúpula, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Braga Netto se tornou, na prática, o novo superministro, principalmente porque, em meio à crise, tem feito a máquina andar. “Nenhum governo dá certo sem coordenação, e nós perdemos muito por falta de uma pessoa com o perfil do Braga. Ele tem método de trabalho, é o típico milico: coordena, define meta e cobra prazo”, afirmou um dos auxiliares do presidente. Além da trombada com Paulo Guedes (Economia) em torno do controverso programa de investimentos públicos Pró-Brasil, Braga Netto entrou em campo para tentar apaziguar o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, quando este desafiava abertamente Bolsonaro em suas entrevistas coletivas diárias sobre o coronavírus.
Com a troca por Nelson Teich, os militares emplacaram o número 2 da pasta, o general Eduardo Pazuello. Braga Netto também avançou sobre a área de comunicação — a peça de lançamento do Pró-Brasil foi feita em seu gabinete, sem a participação da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), chefiada por Fabio Wajngarten. “O desempenho dele só chama atenção porque o governo nunca teve um ministro que exercesse a função da Casa Civil. Onyx Lorenzoni nunca atuou como coordenador de ministérios nem como articulador político”, diz o general da reserva Maynard Santa Rosa, que chefiou a Secretaria de Assuntos Estratégicos. A ascensão militar envolveu o próprio Mourão, que assumiu o renovado Conselho da Amazônia, que passou a abarcar catorze ministérios.

A chance de ser vitoriosa a empreitada de Bolsonaro pela refundação de seu governo é incerta. Depois de, no início da gestão, ter tentado negociar com bancadas temáticas, à margem dos partidos, e ver a estratégia revelar-se insuficiente pela falta de coesão entre os agrupamentos, ele agora corre o risco de virar refém do que dizia abominar. Não só Bolsonaro é imprevisível, como o Centrão também não é conhecido por ser fiel. “Quando o Bolsonaro se livrar dessa condição mais delicada, ele próprio vai chutar o Centrão. Do mesmo modo que, se o Bolsonaro cair em popularidade, o Centrão, depois de receber esses recursos, vai pular fora”, afirma Antônio Augusto Queiroz, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). O apelo ao bloco fisiológico na hora da crise lembra as situações vividas por Fernando Collor e Dilma Rousseff — em nenhum dos casos, o movimento garantiu a sobrevivência. Em compensação, funcionou com Michel Temer, que barrou no Congresso duas denúncias feitas pela Lava-Jato em meio à enorme crise desencadeada pela revelação da conversa “tem que manter isso aí” com Joesley Batista.

A crise do coronavírus pode garantir o tempo necessário para Bolsonaro se rearticular. O Congresso precisa priorizar o enfrentamento da doença em vez de ficar discutindo um impeachment ou CPI, como expôs Maia ao longo da semana. A população insatisfeita com o governo também não pode sair às ruas, o que elevaria a pressão pelo afastamento. Segundo o Datafolha divulgou no dia 27, após a saída de Moro, 45% apoiam o impeachment e 46% defendem a sua renúncia. “A opinião pública não se move do dia para a noite. As pessoas terão de pensar se vale a pena o custo de transição de um presidente para outro”, diz Malco Camargos, cientista político da PUC-MG.
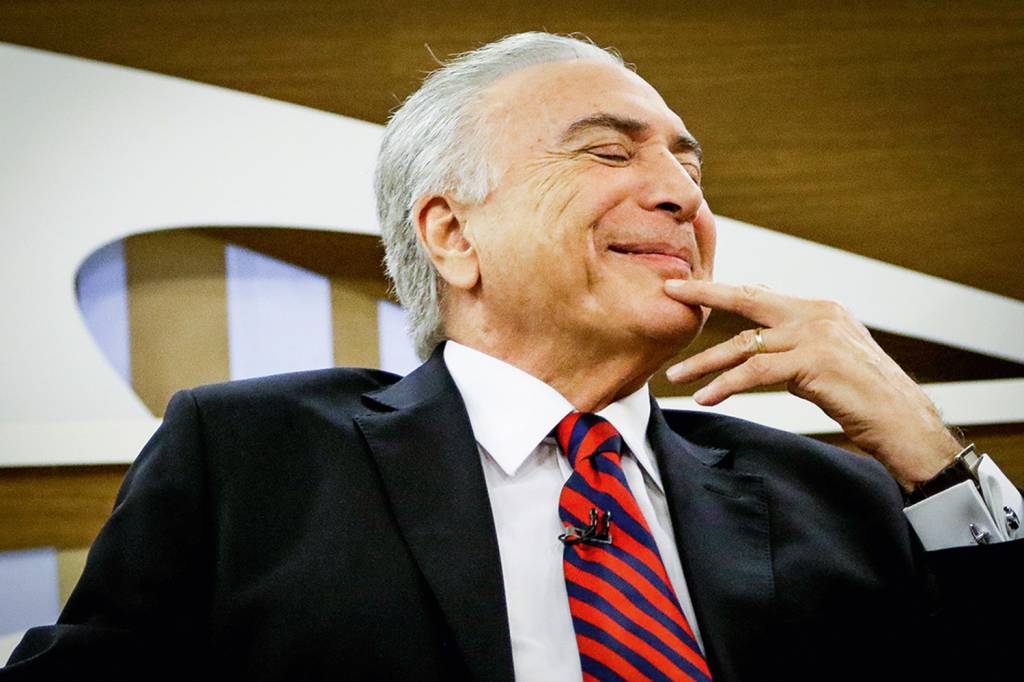
Se por um lado a Covid-19 ajuda a esfriar a pressão das ruas e o clima no Congresso, por outro o avanço da doença expõe o despreparo do presidente para enfrentar a questão. Quando o número de mortos rompeu a barreira dos 5 000, ultrapassando a China, Bolsonaro soltou a sua frase mais desastrosa — e não foram poucas — sobre a pandemia: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”. Há ainda a questão econômica: as projeções para o PIB são de queda de 5,2%. A combinação de uma calamidade sanitária com a pior recessão que o país poderá enfrentar em anos já era motivo suficiente para preocupação, mas Bolsonaro tratou de abrir também uma crise política e agora tenta embicar a sua nau em outra direção. O tempo dirá se a manobra vai dar certo ou se vai acelerar o naufrágio do governo.
Publicado em VEJA de 6 de maio de 2020, edição nº 2685


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO













