Os bancos brasileiros passaram por grandes transformações ao longo do último meio século, mas alguns de seus desafios parecem atemporais. Um exemplo é a dificuldade para estabelecer um diálogo transparente com o Estado sem, no entanto, ceder às suas pressões — nem sempre legítimas. Já em 1971, durante a abertura do VIII Congresso Nacional dos Bancos, o economista Antônio Delfim Netto — então poderoso ministro da Fazenda da ditadura instaurada em 1964 — havia mandado para o setor um assertivo recado, cujo conteúdo, revisitado agora, soa bastante atual: “Temos de pensar num sistema bancário (…) que torne possível a existência de sólidos, grandes e eficientes bancos nacionais, capazes de financiar o desenvolvimento econômico nacional”. A política concebida pelos militares calçava-se no planejamento e na forte presença do Estado na economia, o mesmo receituário adotado, anos depois, pelo governo do PT, sobretudo na gestão de Dilma Rousseff. Para chegar ao objetivo de Delfim para a economia brasileira, a atuação dos bancos era decisiva. Assim, começaram a ganhar forma no início da década de 70 os enormes conglomerados financeiros, que deveriam ter tamanho suficiente para atrair clientes, captar recursos e sustentar vigorosos projetos.
O novo perfil era inspirado no modelo japonês. O leque de serviços disponibilizado ao público ia de fundos de investimento e compra de ações a ofertas mais simples, como o pagamento de impostos na rede bancária. “Bancos — Supermercados de dinheiro”, dizia VEJA em sua capa da edição de 21 de abril de 1971, na qual a revista radiografou a mudança que marcaria os últimos cinquenta anos de história dos principais agentes do sistema financeiro nacional. Terminava ali a era da especialização bancária. Até então, as instituições ofereciam poucos serviços, como a possibilidade de abertura de caderneta de poupança, por exemplo. Sob esse ponto de vista, o avanço era inegável. Contudo, a multiplicidade de serviços bancários, que ia ao encontro das aspirações do governo, trazia consigo o outro lado da moeda — com o perdão do trocadilho — cunhado pelo setor naquele momento, o que dificulta o diálogo entre as partes.
O pomo da discórdia era algo que continua assombrando a economia brasileira: juros altos. À frente da Fazenda, Delfim Netto pressionava os banqueiros, via Banco Central, a reduzir as taxas — o piso estava, então, em 24% ao mês (abaixo dos 39%, na média, dos dias atuais). “Se a estrutura dos custos operacionais dos bancos não permitir uma redução nas taxas de juros sobre os empréstimos, poderá ocorrer uma situação de sérias dificuldades para os bancos comerciais, tornando-se quase inevitável uma participação maior da rede bancária oficial ou a retração da procura por crédito”, alertava o então presidente do BC, Ernane Galvêas. Como aconteceria décadas depois, com Dilma no Planalto, a pressão do Estado seria um dos instrumentos — impróprio, como sempre — para forçar a redução do custo do dinheiro.
Outro ponto de atrito na relação entre governo e bancos — e que merece atenção constante, como a última gestão petista demonstrou — foi a inflação. Embora avassalador para a população, aquele era um mal que alimentava as instituições financeiras. Em 1992, por exemplo, a alta de preços proporcionou aos bancos um lucro 56% maior que no balanço anterior. Surpresa? Um levantamento da consultoria Austin Asis mostrava que a rentabilidade média dos bancos brasileiros entre 1987 e 1991 fora de 13% em relação ao seu patrimônio. No mesmo período, os europeus tinham conseguido 9% e os americanos, 7%. “É quase impossível um banco ter prejuízo sob uma inflação de padrão brasileiro”, declarou, na ocasião, Ibrahim Eris, à época no comando do Banco Central. A situação levou o presidente Itamar Franco a conclamar uma reforma do sistema. Entretanto, o quadro só mudaria de fato com o Plano Real (1994), que derrubou a inflação no país.
O cenário, a partir dali, se transformaria — trazendo, no caso dos bancos, uma fase de enorme tormenta. O ponto culminante do inferno astral do sistema financeiro no Brasil se deu em 1995, como mostrou a edição de VEJA de 22 de novembro, que exibia a imagem de um cofre-forte em meio a destroços. “Terremoto nos bancos”, segundo noticiava a revista, tinha por base a intervenção que o governo Fernando Henrique Cardoso fizera no Nacional. A instituição havia se sustentado por dez anos falsificando balanços e enganando acionistas e clientes, o que causara um rombo de 7 bilhões de reais. Com o dinheiro do Proer, o programa de socorro aos bancos, seus ativos bons acabariam vendidos ao Unibanco. Sem isso, os correntistas perderiam tudo.

Escaldado pelo naufrágio do Banespa (1994) e do Banco Econômico (1995), FHC recorreu ao Proer por temor de que o colapso de outro grande banco fragilizasse o sistema financeiro. “A VEJA está na pista de que o Unibanco vai comprar o Nacional”, escreveu FHC em seus diários, que seriam lançados em livro a partir de 2015. “Não quero entrar direto nessa questão, porque isso pode dar de novo corrida nos bancos. É o meu maior pavor hoje, depois da experiência do Econômico, porque sei que é difícil controlar e o governo perde muito dinheiro se entrarmos outra vez em corrida de banco”, anotou. O salvamento do Nacional inauguraria uma tendência: contando, em alguns casos, com a ajuda do BC, os bancos fortes passaram a comprar os fracos; e os médios, a se fundir. “Dos 246 bancos existentes hoje no país, é provável que sobrem menos de 100 num prazo de dez anos. Dos chamados bancos de varejo, sobrará meia dúzia”, calculou a revista. Foi uma previsão certeira.
Com o saneamento do sistema financeiro e o controle da inflação, que fechava uma das portas para o lucro fácil, os bancos voltariam suas baterias para o oferecimento de uma gama cada vez maior de serviços. O uso crescente do crediário modificou os hábitos de consumo, resultando numa expansão inédita da capacidade de compra, como registrou a capa de VEJA de 26 de abril de 2006, com o título “Chuva de dinheiro”. Novas regras adotadas para dar segurança e garantias a quem empresta, além da estabilidade da economia, criariam condições para um crescimento inédito dessas operações no Brasil. O custo elevado do crédito, porém, manteve-se como um dos principais desafios do sistema financeiro nacional, conforme detalha a reportagem seguinte.
Publicado em VEJA de 15 de agosto de 2018, edição nº 2595



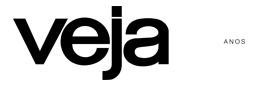
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO










