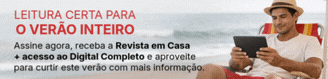A discórdia é mãe da literatura. Mãe impiedosa, que às vezes sufoca a própria prole, mas ainda assim lhe confere argumento, substância, sentimento — assunto, enfim. Épocas turbulentas podem tornar difícil, ou quase impossível, o próprio ato da escrita; mas é delas, em grande medida, que vêm as sementes das obras futuras. William Shakespeare, por sinal, iniciou sua carreira de dramaturgo escrevendo sobre um dos mais destrutivos períodos da história inglesa: a Guerra das Duas Rosas, série de conflitos entre famílias aristocratas que devastou o país de 1455 a 1485. A trilogia de Henrique VI (1591), uma das primeiras obras atribuídas a Shakespeare, mostra a pobre Inglaterra mergulhando num redemoinho de loucura, cegueira e violência, em decorrência de disputas pessoais entre caudilhos inescrupulosos e megalomaníacos. Esse triplo drama histórico não está entre as realizações mais brilhantes do dramaturgo, mas oferece o retrato contundente de uma nação dividida e prestes a aniquilar a si mesma.
Vistas em retrospectiva, as intrigas estéreis e bizantinas entre os nobres de Lancaster e York lembram um pouco a série Game of Thrones; e o clímax marcial contém alguns prenúncios da desolação metafísica que encontraremos em Rei Lear. Mais sinistro que as cenas de mortandade, contudo, é o espírito de cizânia niilista que inflama os líderes políticos na peça — para quem a destruição mútua é infinitamente mais importante que o destino do país. Em um momento especialmente arrepiante, o rancoroso e algo desvairado Henry Beaufort diz a respeito de seu inimigo, o duque de Gloucester: “Eu vou fazer com que te ajoelhes sobre o chão, ou devastar este país num turbilhão”.
Grande poeta é aquele que sabe mais sobre nós que nós mesmos. Lá dos imaturos primórdios de sua obra, Shakespeare parece enviar uma mensagem ominosa ao Brasil de hoje. Quando a patologia do sectarismo elimina outros laços pessoais e corrói a própria ideia de um destino comum, a devastação das almas procria monstros. No final de Henrique VI, numa paisagem desolada pela discórdia civil, surge a figura macabra de Ricardo Plantageneta: o homem desprovido de “medo, amor ou piedade”, leal apenas a si mesmo e vindo para triunfar sobre os escombros. Em 1592, o tétrico Ricardo III ganharia sua peça homônima — tornando-se um dos tiranos proverbiais no universo shakespeariano.
Saberá algum autor futuro olhar as mazelas da desagregação nacional e extrair beleza de nossa “vil e rancorosa discórdia” — com o distanciamento estético que o jovem Shakespeare aplicou ao turbilhão inglês? A tormenta institucional, a ansiosa orgia das notícias falsas, os rompimentos pessoais, a gangorra fatal que de mês em mês parece soçobrar a república — alguém extrairá disso tudo algum portentoso relato para os próximos séculos? Agarremo-nos a essa elegante esperança. Pois, como escreveu Homero: “Os deuses criam infortúnios para que os homens tenham contos que contar”.
Quando nada mais nos une, que nos una, ao menos, a experiência do caos.
Publicado em VEJA de 18 de julho de 2018, edição nº 2591