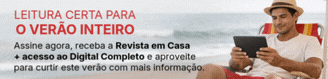Lições à flor da pele
A longa jornada contra a discriminação racial nos Estados Unidos tem muito a nos ensinar — tanto por seus acertos quanto por suas falhas


A estudante Elizabeth Eckford, de 15 anos, gastou duas horas arrumando-se para comparecer ao primeiro dia de aula na Escola Central, de Little Rock, no Arkansas, em setembro de 1957. Ela estava entre os nove adolescentes negros que haviam sido aprovados para frequentar a instituição, três anos depois de a Suprema Corte considerar inconstitucional a segregação racial nos bancos acadêmicos. Na porta da escola, Elizabeth foi recebida aos gritos de “Linchem ela! Linchem ela! Volte para a África!”. Naquele dia, a jovem foi barrada na entrada da instituição pelos guardas que deveriam protegê-la. No restante do ano, teve de lidar com as agressões de 2 000 alunos brancos.
A escravidão foi abolida nos Estados Unidos em 1863, mas no começo do século XX a segregação retornou oficialmente aos estados do sul. Até 1964, certos lugares mantinham bairros, escolas, ônibus, banheiros e mesmo bebedouros separados para brancos e negros. Somente em 1965 os afro-americanos ganharam direito ao voto. Àquela altura, Barack Obama, o homem que viria a se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tinha 4 anos de idade. O pouco mais de meio século entre o vilipêndio da jovem Elizabeth e a consagração de Obama nas urnas, em 2008, representa uma longa jornada — que ainda hoje não está completa.
Iniciado nos anos 1950, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos atingiu seu ápice na década seguinte. Foi naquela época que a fratura da questão racial no país se tornou definitivamente exposta e o fim das políticas discriminatórias se revelou irreversível. A transição foi marcada por tensões sociais, com muita violência política e racial. O assassinato de Martin Luther King, em abril de 1968, representou o momento mais traumático desse cenário. Nos dias seguintes ao do crime, foram registrados protestos em 125 cidades americanas, com um saldo de 46 mortes, 2 600 feridos e centenas de imóveis depredados. O martírio de Luther King, no entanto, não deixou atrás de si apenas um rastro de sangue e destruição. Nos anos 1970 houve avanços nunca vistos em favor das minorias. Em centenas de casos, negros foram eleitos para câmaras municipais. Cidades como Detroit, Los Angeles e a capital Washington ganharam o comando de afro-americanos. Programas de cotas em universidades e em postos de trabalho na administração pública e em empresas privadas possibilitaram que cerca de 15% da população negra ingressasse na classe média.
Em 1980, 6% dos calouros que se matriculavam nas universidades dos Estados Unidos eram afro-americanos. Os defensores das ações afirmativas comemoravam, porém diziam que havia muito que melhorar. Apenas metade dos jovens negros em idade universitária entrava nas faculdades — e não sabia como avançar a partir daí. Como a questão não se explicava mais pelo preconceito explícito que criou leis que impediam o progresso dos afro-americanos, os analistas detectaram um problema de fundo nas ações afirmativas: elas estavam sendo aplicadas de maneira incompleta. Embora as cotas abrissem as portas das universidades e das empresas, elas não derrubavam os muros da pobreza que impediam os menos favorecidos (inclusive os não negros) de conseguir aproveitar as oportunidades que surgiam por meio de programas sociais. Em 1980, a participação dos afro-americanos na renda nacional era igual à de 1960.
Ao mesmo tempo, os críticos das ações afirmativas aproveitavam para bombardear as políticas de igualdade racial. Diziam que as cotas e os demais benefícios não funcionavam e criavam uma horda de dependentes do Estado. Por essa razão, muitas das políticas voltadas à população negra foram abandonadas. Resultado: em 2015, o número de afro-americanos que ingressaram nas universidades americanas foi proporcionalmente menor que 35 anos antes, segundo o jornal The New York Times.
Tidos como um poderoso instrumento de análise demográfica, os dados do Departamento de Educação dos Estados Unidos, divulgados no primeiro semestre, dão a exata dimensão do grau de vulnerabilidade dos jovens negros e do nível de desvantagem competitiva quando associada ao seu perfil socioeconômico. A taxa de adolescentes afro-americanas que deram à luz com idade entre 15 e 19 anos foi o dobro da registrada entre as brancas. Esse fenômeno contribui para um quadro desastroso: duas de cada três crianças negras não dividem o mesmo teto com o pai e a mãe. Quase sempre são as mães as responsáveis por prover o sustento. Impedidas de estudar, essas jovens precisam precocemente recorrer ao mercado de trabalho para poder arcar com os custos do filho ou dos filhos. Por causa disso, 37% dos menores afro-americanos vivem na pobreza. Há dezessete anos, esse índice era cerca de 6 pontos porcentuais menor.
O Brasil jamais experimentou as tensões sociais ocorridas nos Estados Unidos nas últimas décadas. E, à diferença do que ocorre lá, onde qualquer vínculo ancestral com negros define um afro-americano como tal, muitos brasileiros afrodescendentes nem sequer se veem como parte desse grupo. “O Brasil teve a sorte ou o azar de não viver conflitos sociais como os que atingiram os Estados Unidos. Isso, entretanto, não quer dizer que eles não afetem a vida das pessoas”, diz George Reid Andrews, professor de história da Universidade de Pittsburgh. É verdade. O sociólogo americano Ellis Monk, da Universidade Princeton, debruçou-se sobre a realidade dos negros brasileiros. Concluiu que a discriminação está ligada à forma como as pessoas são vistas no meio. Também constatou que a cor da pele ou o tipo de cabelo definem muito mais essa relação do que um conceito teórico de raça. Pelo fato de o racismo ter por aqui matizes mais sutis que nos Estados Unidos, é mais difícil para a sociedade aceitar a existência de ações afirmativas e reconhecer as consequências danosas do preconceito. Ao mesmo tempo, muitas vezes os movimentos raciais no Brasil tendem a se espelhar na realidade americana. Correm, assim, o risco de importar o que de pior foi gerado por ela: os conflitos e tensões como modo de explicitar as diferenças.
Publicado em VEJA de 22 de novembro de 2017, edição nº 2557