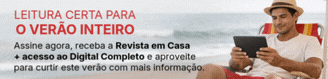Pais de todas as lendas
Em ‘Ascensão e Queda de Adão e Eva’, Stephen Greenblatt percorre séculos de leituras e contestações da história bíblica dos dois primeiros seres humanos


O gesto delicado com que a mulher nua segura o fruto próximo à cabeça da serpente comporta uma inquietante ambiguidade: quase parece que ela está alimentando a cobra. Quase, pois todos sabemos que a gravura de Albrecht Dürer estampada acima representa Adão e Eva, o primeiro casal humano de que fala o Gênesis — e que, portanto, é a cobra tentadora que entrega o fruto proibido à mulher, enquanto ao seu lado o homem, com o braço estendido, já se apresenta para dar a segunda mordida. No chão, um rato e um gato descansam a pouca distância um do outro, mas essa placidez está para ser rompida: a desobediência à única proibição baixada pelo Deus criador — “não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal” — traria a desgraça não só da humanidade, mas de toda a Criação, e logo o gato daria o bote sobre o rato.
A gravura de Dürer, tão rica em texturas e significados, passa por uma análise fina e sensível — resumida em traços ligeiros no parágrafo acima — em Ascensão e Queda de Adão e Eva, o tour de force que o crítico e historiador americano Stephen Greenblatt, da Universidade Harvard, fez por séculos de leituras, desleituras, interpretações e reinterpretações do mito do Jardim do Éden. Hoje, cinco séculos depois de Dürer, qualquer cartunista pode traçar um homem e uma mulher nus perto de uma convencional macieira com a plena segurança de que será imediatamente compreendido na maior parte do mundo. Em entrevista a VEJA, Greenblatt declara-se fascinado pela universalidade da história, e esse fascínio transparece em todas as páginas de seu belo livro. Sim, ele admite, o fato de o mito judaico ter sido absorvido pelos outros dois grandes monoteísmos — cristianismo e islamismo — contribuiu decisivamente para sua ampla popularização. “Mas não se trata só de uma questão de respaldo institucional: a história em si é assombrosa. Existe nela algo de estranho e extraordinário, que a torna memorável”, diz Greenblatt, com o invejável entusiasmo do estudioso que se apaixona pelo objeto de estudo. “Mesmo que você só tenha ouvido a história de Adão e Eva quando criança, nunca mais a terá esquecido.”

A forma escrita com que ficaram consagradas a Criação e a Queda — em três exíguos capítulos do Gênesis — foi definida quando os judeus de Jerusalém, de volta do duro exílio na Babilônia, decidiram consolidar suas crenças e narrativas em um livro sagrado. Há certo consenso, entre os estudiosos, de que a Torá, reunião dos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica, foi composta no século V a.C., mas também é certo que seus editores (se é que se pode usar essa categoria moderna aqui) trabalharam com fontes bem mais antigas. Greenblatt não se demora na discussão técnica sobre os hipotéticos autores das histórias bíblicas, mas dedica um capítulo saboroso aos possíveis ecos que outros mitos da Mesopotâmia — em particular, a saga de Gilgamesh — teriam tido sobre o Gênesis.
Enxuta, a narrativa bíblica sempre abriu espaços para dúvidas. Algumas eram metafísicas: Deus havia dito que, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva passariam a ser mortais — mas como seres em estado de inocência, sem conhecimento do bem e do mal, poderiam conceber o que é a morte? Outras eram bem prosaicas: que tipo de trabalho se faria no Éden? O primeiro casal recebeu a ordem de povoar a Terra — então fariam sexo? Teriam prazer? Há textos antigos que revelam o anseio, entre judeus e cristãos, de completar essas lacunas. É o caso do Apocalipse de Adão, que, apesar do título, dá especial relevo a Eva, ou de O Testemunho da Verdade, que narra a história da perspectiva da serpente. Ambos foram compostos entre 350 e 400 d.C. e só redescobertos em 1945, quando se encontrou a chamada Biblioteca de Nag Hammadi, enterrada em um lugarejo do Egito.
Muito cedo houve teólogos que sugeriram a saída mais elegante para as dificuldades lógicas que o texto bíblico trazia. O alexandrino Orígenes Adamâncio, no século II, propunha que se lesse a narrativa da criação como alegoria, e não como relato histórico preciso da origem da humanidade. Mas a posição final da Igreja foi definida por Santo Agostinho, que devotou quinze anos de trabalho a um malogrado ensaio sobre a verdade literal do Gênesis. A ideia do Pecado Original que toda a humanidade herdou de Adão e Eva também assumiu contorno definitivo com o autor das Confissões. Porém Greenblatt inocenta Agostinho do viés misógino que essa doutrina ganharia em muitos intérpretes posteriores. Como a mulher foi a primeira a ouvir a serpente, só ela pode ser “a causa de nossa ruína”, dizia, na Idade Média, o beneditino São Pedro Damião, em um texto repleto de impropérios contra as pecadoras: “cadelas, porcas, corujas uivantes (…) meretrizes, prostitutas”.


Ascensão e Queda de Adão e Eva cita o Talmud com alguma frequência, e mais raramente recorre à tradição islâmica. Embora o autor seja de ascendência judaica e tenha frequentado sinagogas na infância, são as leituras cristãs de Adão e Eva que recebem mais destaque ao longo do livro. Há boas razões para isso. Judaísmo e islamismo mantêm interdições à figuração de Deus e de episódios bíblicos. Só o cristianismo, portanto, construiu a rica história visual dos dois habitantes do Éden.
A imagem mais vívida que carregamos de Adão e Eva deve-se à grande arte da Renascença. O afresco que Masaccio pintou em Florença, na igreja das freiras carmelitas, em 1425, plasma toda a dor e a vergonha da expulsão do paraíso (uma adição posterior à pintura cobriu o sexo de Adão e Eva com pudicas folhas de figueira, removidas em uma restauração nos anos 1980). Michelangelo, na Capela Sistina, conferiu grandiosidade à cena da criação do homem. Dürer, ensina Greenblatt, tem particular importância na representação visual daquele que seria o primeiro casal humano. É notável o esforço do artista alemão na busca de formas ideais para os corpos de Adão e Eva — diretamente criados por Deus, eles teriam de ser perfeitos. A técnica que ele escolheu para essa obra também importa: em 1504, quando o artista concluiu seu Adão e Eva, a gravura, que permitia várias cópias, era o meio mais eficiente de fazer circular uma imagem.
Na literatura, já no século XVII, o inglês John Milton deu nova vida ao Éden e a seus personagens no grandioso poema Paraíso Perdido. Puritano fervoroso, que curiosamente se empenhou em uma renhida e frustrada batalha pela legalização do divórcio, defensor da decapitação do rei Carlos I, em 1649, Milton era bom em fazer inimigos. Caiu em desgraça quando a monarquia foi restaurada, com Carlos II, em 1660. Para piorar, aos 44 anos, ficou completamente cego. Suas filhas — com quem não se dava bem — liam para ele, e os versos de Paraíso Perdido foram ditados a um secretário. Seria o último momento de glória de Adão e Eva: uma onda de dúvida e ceticismo já começava a surgir em torno das contradições do mito, que no século seguinte enfrentaria a ironia corrosiva de iluministas como Voltaire.
Charles Darwin levava um exemplar de Paraíso Perdido consigo quando embarcou no Beagle, em 1831, para a viagem em que levantaria as evidências para sua teoria da evolução. Prudente, não falou de Adão e Eva em A Origem das Espécies ou A Descendência do Homem, mas era óbvio que, com essas obras, a biologia sepultava toda ilusão de que o homem e a mulher teriam sido criados prontinhos em um único lance divino. Os criacionistas continuam em cena e fazem algum barulho, sobretudo nos Estados Unidos, mas já não conhecem o respeito intelectual que Agostinho tinha em seu tempo. Adão e Eva, entretanto, ainda respiram. “Mesmo que todas as evidências científicas digam que não se pode aceitar essa história literalmente, ela segue sendo comovente e poderosa”, diz Greenblatt. “Isso é um testemunho do poder da literatura.”
Publicado em VEJA de 16 de maio de 2018, edição nº 2582


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO